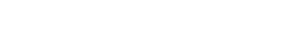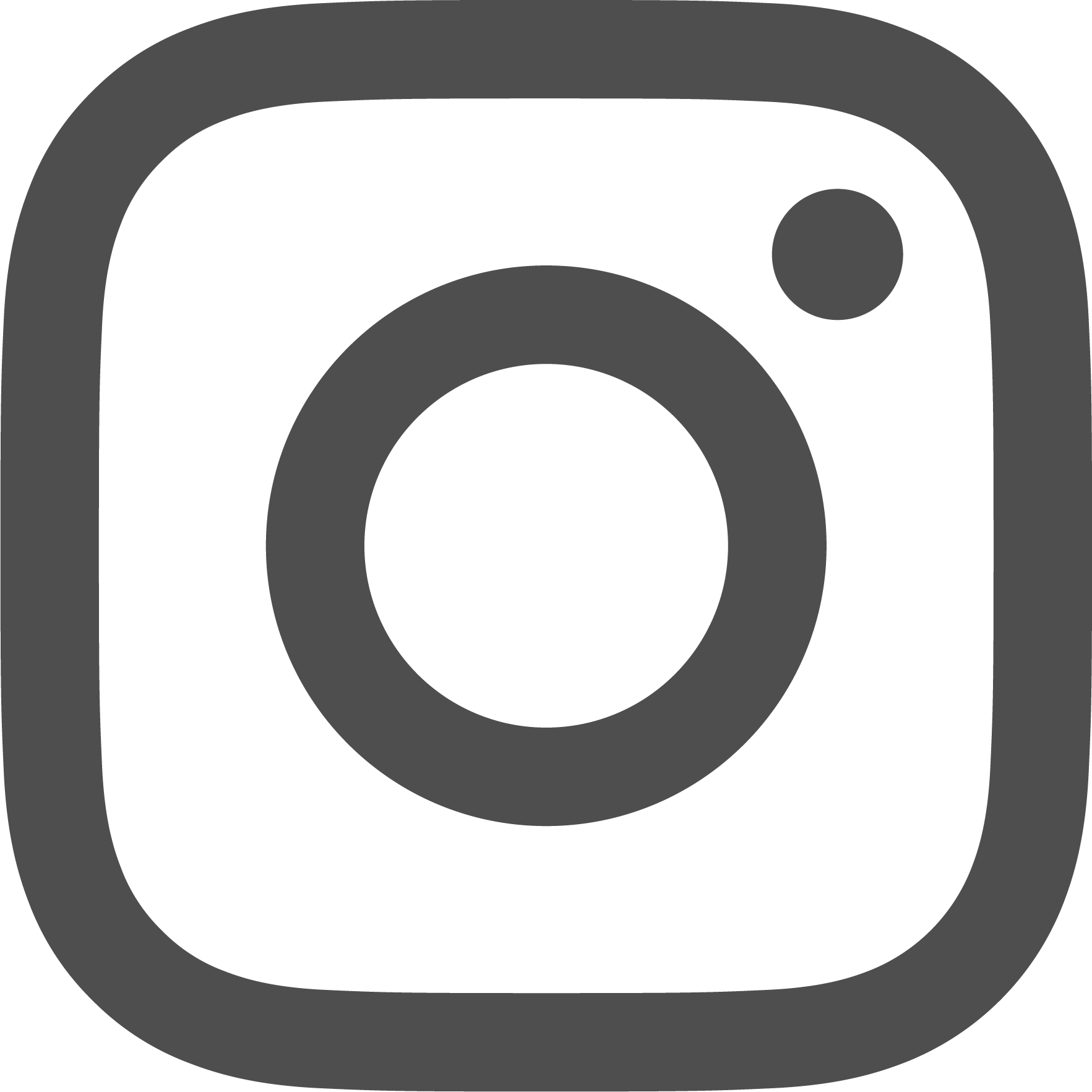Neste artigo, o cientista político José Luis Fiori mostra que um outro desafio está por trás da ascensão vitoriosa de Trump. E não está na economia nem nas armas, mas no campo “moral”, onde os Estados Unidos vem assistindo uma perda acelerada de uma de suas principais armas, utilizada na conquista e no exercício do seu poder global: a crença nacional e a aceitação internacional da “excepcionalidade moral” dos Estados Unidos, que lhe dá o direito – como “povo escolhido” – à definição e imposição quando necessário, das regras e dos critérios éticos internacionais e, em última instância, do seu arbítrio e execução.
O artigo “A transformação mundial e o fenômeno Trump”, de autoria do cientista político José Luis Fiori, foi publicado originalmente no site da Federação Única dos Petroleiros. A Rede Observatório das Metrópoles divulga o texto com o propósito de enriquecer o debate sobre a geopolítica internacional.
Para acompanhar a produção de José Luis Fiori, acesse o site da FUP.
Fiori é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e autor do livro “O Poder Global” (Editora Boitempo). Ele pesquisa e ensina há mais de 20 anos no campo das Relações Internacionais, e em particular, na área de Economia Política Internacional, com ênfase no estudo das relações entre a geopolítica e a economia política do “sistema inter-estatal capitalista”.
Até 2008, publicou 9 livros e organizou 5 coletâneas. Ganhou o Prêmio Jabuti de Economia, Administração, Negócios e Direito, na Bienal do Livro de São Paulo, em 1998, com o livro “Poder e Dinheiro. Uma economia Política da Globalização”, organizado com a professora M.C.Tavares; e recebeu Menção Honrosa, na Bienal do Livro de 2002, com o livro “Polarização Mundial e Crescimento”, organizado com o professor C. Medeiros. Desde 1990, publicou cerca de 230 artigos em jornais como Valor Econômico, Correio Braziliense, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, Jornal do Comercio, e em revistas como Carta Capital, Exame, Praga, Margem Esquerda, Carta Maior, SinPermisso e La Onda.
A TRANSFORMAÇÃO MUNDIAL, e o “fenômeno Trump”
José Luís Fiori
“O aparecimento de uma potência emergente é sempre um fator de desestabilização e mudança do sistema mundial, porque sua ascensão ameaça o monopólio das potências estabelecidas. Na verdade, porém, os grandes desestabilizadores do sistema são os próprios estados líderes ou hegemônicos, pois eles não podem parar de se expandir para manterem sua hegemonia – e para se manterem à frente dos demais, eles precisam desafiar continuamente as regras e instituições que foram estabelecidas por eles mesmos, mas que podem estar bloqueando sua necessidade de inovar e expandir mais do que todos os demais” (J.L.Fiori, História, estratégia e desenvolvimento”, Boitempo, São Paulo, 2014, p: 30 e 31)
A primeira impressão do analista é que o relógio do mundo enlouqueceu e a bússola do sistema mundial quebrou, porque a partir de um certo momento, neste início de século, sucederam-se fatos e fenômenos internacionais absolutamente surpreendentes e de consequências imprevisíveis. Antes disso, por exemplo, a queda do Muro de Berlim e do desaparecimento da URSS também foram surpreendentes sem dúvida nenhuma, mas as guerras que se seguiram, no Golfo Pérsico e nos Balcãs, eram previsíveis e cumpriram o papel de definir as novas regras de funcionamento e gestão do sistema mundial depois do fim da Guerra Fria.
Da mesma forma que os atentados do 11 de setembro de 2001 surpreenderam a humanidade, mas as guerras que se seguiram, no Afeganistão e no Iraque, já estavam planejadas há muito tempo e faziam parte da reorganização da geopolítica do “mundo islâmico” depois do fim da União Soviética.
Algo inteiramente diferente do que aconteceu com o golpe militar da Turquia em julho de 2016 que foi absolutamente surpreendente, na medida em que foi apoiado por forças ligadas a OTAN, foi desferido contra um governo da própria OTAN, e apesar de tudo foi derrotado pelo contragolpe do presidente Recep T. Erdogan, que tem se aproximado cada vez mais da Rússia e do Grupo de Shangai. Da mesma forma que surpreendeu o mundo o ataque norte-americano à Síria, em abril de 2017, com o lançamento de dezenas de mísseis Tomahawk disparados como resposta a um ataque com armas químicas que matou cerca de 80 pessoas perto da cidade de Homs, mas cuja origem e a própria existência jamais foi investigada ou comprovada.
Da mesma forma que ocorreu com o lançamento sobre o Afeganistão, no mesmo mês de abril de 2017, de uma bomba GBU-43, a arma mais poderosa arma de que dispõem os Estados Unidos fora do seu arsenal nuclear, sem que tenha havido nenhum motivo ou aviso prévio conhecido. Para não falar do ultimato da Arábia Saudita, e dos seus aliados do Golfo Pérsico apresentado ao governo do Qatar neste último mês de junho de 2017, de forma inteiramente abrupta, arbitrária e inesperada, sem que se consiga divisar suas causas, consequências e desdobramentos.
Alguns analistas costumam colocar nesta mesma lista de “surpresas”, a vitória do Brexit no plebiscito britânico de junho de 2016 e a eleição presidencial de Donald Trump em novembro do mesmo ano. Mas é necessário ter cautela com estas comparações, porque nem o Brexit nem Trump “caíram do céu”, apesar de que as consequências destas duas decisões anglo-saxônicas permaneçam inteiramente indefinidas e imprevisíveis, no campo internacional.
No caso do plebiscito britânico, o euroceticismo dos ingleses vinha crescendo a olhos vistos há muito tempo e o projeto de integração europeia, nos últimos anos, vinha enfrentando obstáculos cada vez mais complexos e insuperáveis. Mas não há dúvida de que o resultado do plebiscito surpreendeu e desagradou uma parte significativa da elite política, financeira e intelectual britânica e deixou para trás uma enorme incógnita no horizonte europeu, uma vez que a saída inglesa tanto pode levar à desmontagem do seu projeto de unificação, quanto pode acelerar a hegemonia e a militarização da Alemanha e do resto da Europa nos próximos anos. Já no caso da Grã-Bretanha, mesmo que ela não se dissolva, o mais provável é que siga no seu declínio como potência europeia, aumentando a sua dependência “filogenética” dos Estados Unidos.
Já no caso da vitória de Donald Trump, o primeiro que se deve fazer para explicar sua vitória, antes mesmo de discutir as suas possíveis consequências, é separar e distinguir a figura excêntrica do novo presidente americano daquilo que podemos chamar de “fenômeno Trump”, algo mais amplo e que transcende o personagem presidencial. Do nosso ponto de vista, a vitória de Donald Trump não foi imprevista, e o “fenômeno Trump” deverá permanecer e impactar o sistema mundial, mesmo que o presidente americano seja afastado, ou que seu governo seja bloqueado, como já aconteceu no passado, com os presidentes Nixon, Clinton e Obama.
Do ponto de vista econômico, faz muito tempo que analistas já vinham chamando a atenção para as consequências explosivas da crise financeira de 2008, e para os efeitos perversos das políticas adotadas pelo governo Obama, como resposta à crise. Desde então, a economia americana manteve-se num patamar de crescimento inferior às suas taxas históricas, e muitos economistas já haviam diagnosticado uma “estagnação secular”, agravada pelas quedas da “taxa de inovação” e da velocidade do “aumento da produtividade’ da economia americana. Isso para não falar do clima de descontentamento generalizado provocado pelo aumento do desemprego industrial, pela queda da massa salarial e pelo crescimento exponencial da concentração da riqueza e da desigualdade social.
Por outro lado, do ponto de vista estritamente diplomático e militar, nesse mesmo período os Estados Unidos acumularam derrotas e fracassos sucessivos em suas intervenções externas e muitos analistas vinham apontando uma diminuição da distância entre a poder bélico dos EUA em relação ao de seus principais competidores russos e chineses, criando um sentimento cada vez mais generalizado, na imprensa e nos meios acadêmicos de que os EUA estaria perdendo sua liderança militar dentro do sistema mundial.
Apesar de que os EUA siga sendo, de fato, a principal potência econômica e militar do mundo e siga mantendo sua absoluta centralidade para o funcionamento do sistema mundial, o que mudou, indiscutivelmente, foi a velocidade relativa das inovações tecnológicas e militares e a tendência de longo prazo de mudança na correlação de forças entre os EUA e seus principais competidores dentro do sistema internacional.
E este é um ponto importante que não se pode desconsiderar na explicação do “fenômeno Trump, porque as grandes potências tomam suas grandes decisões de mudança estratégica exatamente nos momentos em que se sentem ameaçadas por estas tendências de longo prazo, muito mais do que na hora de suas derrotas ou dificuldades imediatas e eventuais.
De qualquer maneira, do nosso ponto de vista existe um outro problema e um outro desafio de prazo ainda mais longo por trás da ascensão vitoriosa de Trump. Ele não está na economia nem nas armas, mas no campo “moral”, onde os Estados Unidos vem assistindo a uma perda acelerada de uma de suas principais armas, utilizada na conquista e no exercício do seu poder global: a crença nacional e a aceitação internacional da “excepcionalidade moral” dos Estados Unidos, que lhe dá o direito – como “povo escolhido” – à definição e imposição quando necessário, das regras e dos critérios éticos internacionais e, em última instância, do seu arbítrio e execução.
Este processo de desconstrução da “excepcionalidade americana” começou na primeira década do século XXI e depois se acelerou vertiginosamente, graças aos sucessivos erros e atropelos à “verdade’ e aos “direitos humanos” consequentes à “guerra global” ao terrorismo declarada por George W. Bush e levada à frente, à ferro e fogo e de forma quase contínua, pelos sucessivos presidentes que lhe sucederam. E, também, graças ao rotundo fracasso da política dos EUA e da OTAN, de difusão da democracia e dos valores “ocidentais”, dentro do território que foi chamado de “Grande Médio Oriente”.
Assim mesmo, acreditamos que este processo de deterioração do “monopólio moral” dos EUA deu um salto de qualidade por ocasião da intervenção militar da Rússia no território da Síria em setembro de 2015 contra as forças do Estado ou Emirado Islâmico, realizada de forma inteiramente surpreendente e autônoma em relação aos EUA. Naquele exato momento, sem nenhum aviso prévio, surgiu um novo poder militar, com capacidade atômica equivalente à dos EUA, propondo defender, arbitrar e punir outros povos fora do seu território e em nome dos mesmos valores ocidentais e cristãos assumidos de forma rigorosamente conservadora e ortodoxa pelo governo de Vladimir Putin.
Foi como se oito séculos depois, os cristãos ortodoxos russos tivessem se colocado ao lado dos católicos latinos e anglo-saxões, para seguir em frente e lado a lado a sua cruzada milenar contra as forças da “barbárie islâmica”.
Naquele momento, também se pode dizer que a Rússia assumiu e passou a ocupar o seu lugar de direito dentro da “comunidade moral” europeia, instalando-se dentro da sala de comando do “programa” ou “software” do sistema de valores e arbítrios inventado pelos europeus ocidentais, herdado pelos Estados Unidos e imposto pelo “ocidente” ao resto do mundo, durante os séculos XIX e XX.
É importante sublinhar, além disto, que a iniciativa militar russa veio apoiada por mudança acelerada da capacitação russa no campo das tecnologias de informação (reconhecida amplamente por autoridades e especialistas ocidentais) utilizadas na espionagem e na guerra eletrônica, mas também na produção e difusão de informações e notícias capazes de transmitir ao mundo uma narrativa dos fatos, e uma interpretação dos acontecimentos diferente da dos EUA e dos seus principais aliados de “fala inglesa”.
A gravidade deste desafio explica, em parte, a virulência do ataque de Trump à ideologia internacionalista dos próprios americanos, e de seus aliados europeus, e também a sua desqualificação de todos os regimes e instituições criadas no século XX, sob a liderança liberal-internacionalista dos herdeiros de Woodrow Wilson. Não se trata de uma retirada “isolacionista” ou “nacionalista”. Pelo contrário, trata-se de uma estratégia em que os norte-americanos não precisem mais se submeter aos consensos e à leis e regimes internacionais, ou à alianças permanentes que possam questionar a autonomia norte-americana e seu monopólio na definição e no arbítrio do que seja a “verdade” e a “virtude” internacionais.
Para esclarecer melhor nosso argumento, e para poder extrair algumas conclusões preliminares, talvez possamos recorrer a uma comparação didática entre esta decisão, proposta por Donald Trump, e outra decisão tomada pelo governo americano ao redefinir sua estratégia internacional na década de 70. Naquela ocasião, frente à crise da conversibilidade do Dólar em ouro, os EUA se desfizeram do regime monetário que eles mesmos haviam criado em Breton Woods em 1944, desregularam os mercados financeiros que eles mesmos haviam regulado e passaram a sustentar a “credibilidade” internacional da sua moeda, da sua dívida e das suas finanças exclusivamente no seu poder global, político, militar e econômico. Essa simples decisão transformou o Dólar num instrumento de poder maior do que já era, e numa verdadeira arma de guerra, que foi utilizada várias vezes, e com sucesso, nas décadas seguintes, período em que os EUA multiplicaram de forma geométrica o seu próprio poder e a sua riqueza financeira.
Agora de novo, na segunda década do século XXI, desafiados pela “ousadia” russa, os EUA está se propondo redesenhar – uma vez mais – a sua estratégia internacional, desfazendo-se de todo tipo de compromisso consensual, e de todos os “regimes” e “instituições” associados com o projeto do “cosmopolitismo ético” que eles mesmos criaram e difundiram urbe et orbi, e que agora pretendem refundar exclusivamente no seu “interesse nacional”, e no seu poder global, político, militar e econômico.
É muito difícil de fazer previsões num momento de grande ruptura e mudança, e, ainda mais, com relação à uma estratégia que se distingue por sua imprevisibilidade radical. Mas sempre é possível formular algumas conjecturas a partir da experiência histórica passada e de algumas características essenciais da proposta que está sendo sugerida e implementada:
- Porque a nova estratégia americana de desconstrução dos velhos parâmetros ideológicos e morais, e de questionamento das antigas alianças e lealdades, deve provocar uma grande fragmentação dentro do sistema interestatal (“síndrome de Babel”), com a multiplicação dos seus conflitos locais, onde os Estados Unidos poderão atuar dentro do seu novo papel: estimulando as divisões, fornecendo as armas e se propondo atuar como juízes. No final de tudo;
- Porque esta mesma fragmentação deve alcançar um nível muito mais grave e incontrolável no Leste da Ásia e na Europa, onde deverá reacender o militarismo do Japão e da Alemanha.
- E, finalmente, porque tudo isto deverá alimentar e realimentar a corrida armamentista, entre os três grandes “jogadores” e produtores/fornecedores de armas deste novo caleidoscópio mundial: EUA, Rússia e China.
Mas existe uma dificuldade prévia que dificulta qualquer previsão mais acurada, porque essa dificuldade atinge a premissa fundamental de todo o raciocínio “trumpiano”. Como saber e definir qual seja exatamente o “interesse nacional americano” num momento histórico em que a sociedade e o establishment político dos EUA aparecem divididos e radicalizados.
Donde se possa deduzir que esta situação aumentará ainda mais a autonomia de comando que já existe, do “Império Militar” dos EUA, com suas 800 bases e milhares de soldados fora do seu território e com seus acordos de “ajuda” e/ou “defesa-mútua” com mais de 140 países, ao redor de todo o mundo. Devendo-se concluir, portanto, que há uma alta probabilidade de que caiba ao comando militar deste “império” a verdadeira função de árbitro e executor da nova “excepcionalidade moral” dos EUA tal como ela é vista, definida e interpretada pelos quartéis, e pelos porta-aviões norte-americanos.