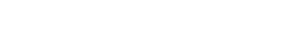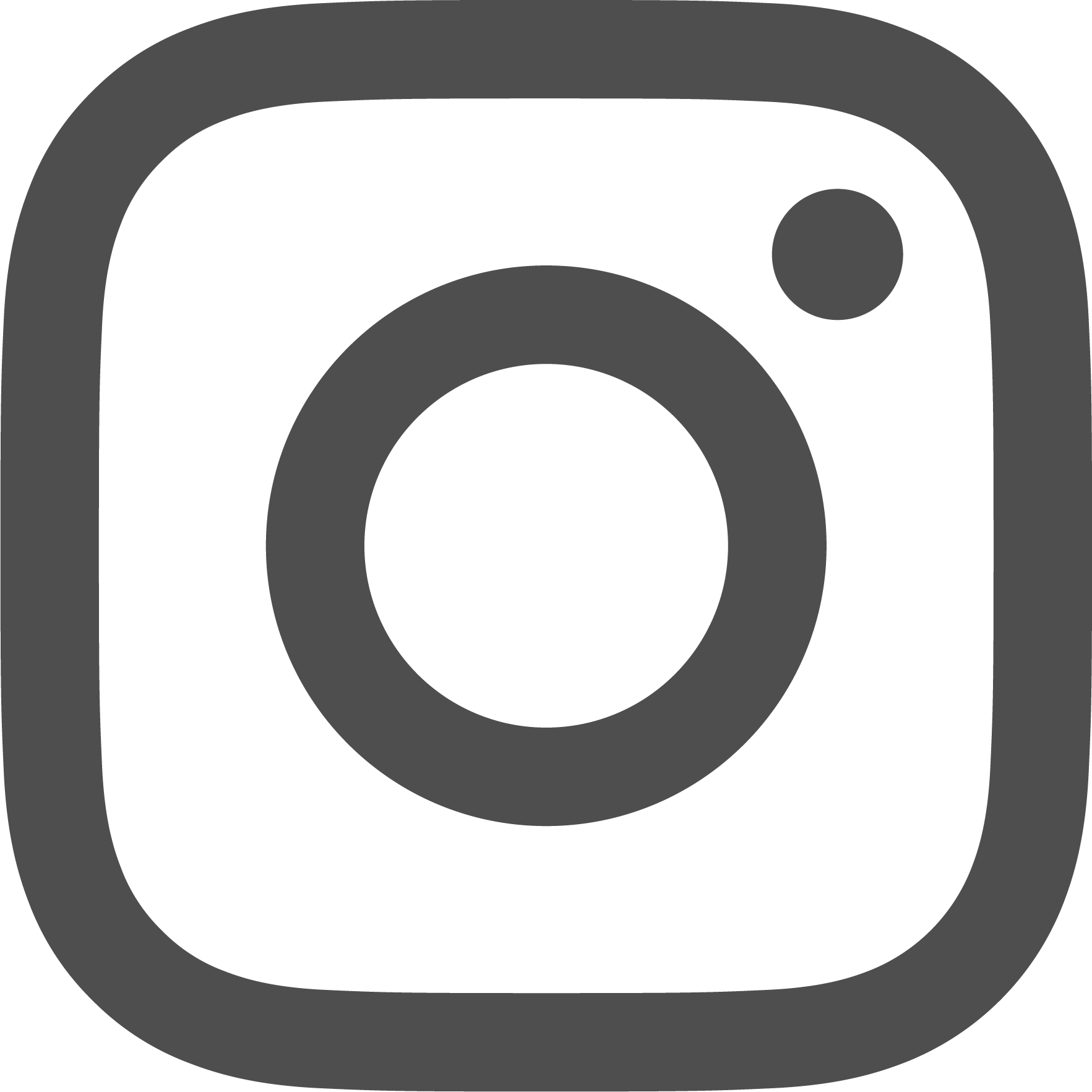Dando continuidade ao debate das remoções das favelas no Rio de Janeiro e da possível legitimação da remoção como política permanente, o pesquisador do Observatório das Metrópoles, Luiz Antonio Machado, no texto Rio depois da tempestade. Há culpados? O que fazer? acrescenta uma visão clara e objetiva a respeito da política de exceção do Estado brasileiro. Na semana passada, apresentamos um relatório elaborado pela Georio que apontava as áreas de risco no Rio de Janeiro e vimos que em nenhuma delas é indicado apenas a remoção das favelas. Machado também retoma a questão e chama a atenção para a “maneira unilateral, autoritária e sem nenhuma transparência pela qual são definidas as áreas de risco.”
RIO DEPOIS DA TEMPESTADE. Há culpados? O que fazer?*
Luiz Antonio Machado da Silva
IUPERJ/UCAM E IFCS/UFRJ
lmachado@iuperj.br
Luiz Antonio Machado da Silva
IUPERJ/UCAM E IFCS/UFRJ
lmachado@iuperj.br
1. Abaixo da linha d’água. O que não costuma ser considerado.
Em 2010 o Rio sofreu a mais forte tempestade desde 1916, ano em que o índice pluviométrico começou a ser medido. Era de esperar que seus resultados devastadores pusessem a administração da cidade em questão, o que de fato aconteceu. A todas as manifestações extraordinárias da natureza segue-se uma caça frenética aos responsáveis pelas trágicas consequências sociais. E, como naquela brincadeira infantil em que se vai retirando cadeira por cadeira até que alguém termine sendo obrigado a ficar em pé, sozinho nessa posição, a responsabilidade sempre acaba nos favelados, ora vistos como espertos “invasores ilegais”, ora como incapazes objetos da “politicagem clientelista”, outra maneira de falar de ilegalidade em relação às favelas. Como quem está na ilegalidade tem um status público muito restrito e, a rigor, não precisa ser ouvido, sempre que este processo de culpabilização é deflagrado, segue-se uma veemente defesa unilateral da remoção das favelas, sempre apresentada como uma política habitacional objetiva, racional e até benevolente, “em favor da vida e da dignidade dos favelados”. Tudo isso é tão previsível que seria monótono se não fosse catastrófico para os removidos.
Em 2010 o Rio sofreu a mais forte tempestade desde 1916, ano em que o índice pluviométrico começou a ser medido. Era de esperar que seus resultados devastadores pusessem a administração da cidade em questão, o que de fato aconteceu. A todas as manifestações extraordinárias da natureza segue-se uma caça frenética aos responsáveis pelas trágicas consequências sociais. E, como naquela brincadeira infantil em que se vai retirando cadeira por cadeira até que alguém termine sendo obrigado a ficar em pé, sozinho nessa posição, a responsabilidade sempre acaba nos favelados, ora vistos como espertos “invasores ilegais”, ora como incapazes objetos da “politicagem clientelista”, outra maneira de falar de ilegalidade em relação às favelas. Como quem está na ilegalidade tem um status público muito restrito e, a rigor, não precisa ser ouvido, sempre que este processo de culpabilização é deflagrado, segue-se uma veemente defesa unilateral da remoção das favelas, sempre apresentada como uma política habitacional objetiva, racional e até benevolente, “em favor da vida e da dignidade dos favelados”. Tudo isso é tão previsível que seria monótono se não fosse catastrófico para os removidos.
Culpas podem e devem ser avaliadas, claro. Os americanos têm um termo, accountability, para referir-se ao fato de que todos, cada organização e cada pessoa, devem responder – inclusive, criminalmente, se for o caso – pelo que ocorre em sua esfera de atribuições. Mas é interessante aprofundar o olhar e expor o que está subjacente às culpas individuais, e desastres como a última tempestade deixam entrever: a natureza da soberania estatal no Brasil. Creio que seria muito útil começar a discutir responsabilidades e soluções neste nível.
Em nosso país o Estado, em todas as esferas e formas de atuação, administra as disputas e conflitos entre os vários segmentos que compõem a população pela excepcionalidade. Estranho paradoxo, que só se manifesta com alguma nitidez com a interferência do “extraordinário natural”, como a tragédia dos dilúvios anunciados (nas chacinas e nos escândalos financeiros também, porém com menor clareza), porque o Estado de exceção não é ocasional nem ligado a momentos de crise, faz parte da nossa (de todos os moradores da cidade) vida cotidiana.
Tome-se o caso dos culpados de sempre pelo “caos urbano”, os favelados. Costuma-se dizer que o Estado está ausente das favelas. É fato que o parcelamento do solo, a atividade construtiva, a compra, venda e aluguel de habitações nas favelas, durante toda a história de sua produção oscila entre a exclusão explícita da atividade regulatória (jurídica e urbanística) estatal e a produção de regulamentos especiais que visam corrigir o que é definido como irregularidade fundiária ou construtiva. (Claro que elas não podem deixar de ser irregulares, pois o Estado sempre as colocou à margem da regulação…) Mas o que são os políticos clientelistas tão criticados, se não um braço do Legislativo nas favelas? E a presença da polícia, tão temida pelos moradores, não é o braço repressivo? E a precariedade das escolas e creches, não é indicativa da presença de serviços públicos? E as associações de moradores, não são veículos das demandas locais na esfera pública? E as ONGs, com ou sem suas várias “parcerias” (termo que encobre com um grão de açúcar a hierarquia entre os participantes), não são a sociedade civil, isto é, o outro lado do Estado? A construção do argumento que sempre desemboca na demanda por mais Estado e menos “favelização”, eterna consequência dos desastres “naturais”, ignora completamente que fala da excepcionalidade do Estado nas favelas, e não da falta dele. Faço uma aposta: não possuo bola de cristal, mas antevejo que nos próximos meses haverá intensa intervenção (por sorte, uma boa parte apenas retórica) nas favelas, e serão intensificadas as remoções que, aliás, já estavam mesmo voltando a ocorrer sob a forma de práticas isoladas e não tanto como política governamental. Mas em pouco tempo tudo vai se “acalmar” – menos, é claro, para as famílias removidas nesse ínterim.
Continuemos por mais um parágrafo “abaixo da linha d’água”, isto é, dos termos explícitos do debate sobre o que fazer depois da trágica enchente. A excepcionalidade não é apenas política, ela também tem lastro econômico.
No capitalismo, os trabalhadores vendem sua força de trabalho aos donos dos meios de produção e destes recebem o que Marx chamava de “capital variável”: o equivalente, sob a forma de salário, do “trabalho socialmente necessário” (outro conceito) para se reproduzirem e serem capazes de voltar a vender sua força de trabalho aos donos dos meios de produção. Dessa maneira, o salário deveria corresponder à cesta de utilidades que, em cada momento histórico, os trabalhadores precisam consumir para manter-se como tais, dentre as quais a moradia. Nas cidades brasileiras, porém, isso nunca aconteceu, como todos sabem: o salário não cobre o aluguel, não dá acesso a financiamento, nem o Estado provê habitação, com ou sem subsídio, para toda a massa de trabalhadores.
Uma quantidade significativa deles precisa estender suas horas de trabalho além do tempo que vende aos donos dos meios de produção para prover a indispensável moradia, o que já foi chamado, com toda a razão, de “superexploração” (na produção capitalista, o salário já expressa a exploração econômica, uma vez que não corresponde a tudo o que os trabalhadores produzem durante o tempo de trabalho vendido; os donos dos meios de produção retem a parte que excede o “trabalho socialmente necessário” – a “mais valia”).
É claro que a moradia produzida fora da relação capitalista imediata faz parte integral do capitalismo, mas é precária por, pelo menos, dois motivos. Primeiro, os recursos produtivos à disposição dos trabalhadores são escassos, de modo que as habitações resultantes são de baixa qualidade ou inacabadas e durante muito tempo os serviços urbanos, que complementam a habitação e são coletivos por definição, ficam faltando. Segundo, os trabalhadores não dispõem de um meio de produção fundamental: a propriedade da terra. Daí que, além da escassez de meios de produção, só é possível aplicá-los nos interstícios da propriedade urbana. No máximo, boa parte dos trabalhadores obtem acesso apenas às piores parcelas da cidade.
Neste ponto, é interessante um comentário adicional. No início da urbanização, a terra não era uma mercadoria, e havia pouquíssimos proprietários; a criação de um mercado de terras, essencial para a produção imobiliária tal como a conhecemos hoje em dia, foi um longo, difícil e conflitivo processo histórico que não cabe analisar neste artigo. Aqui, basta indicar algo que tem sido muito pouco reconhecido: a tão falada “favelização” foi uma das formas de parcelamento do solo no Rio de Janeiro, agregando vastas áreas ao mercado de terras urbano, o que só foi possível por sua irregularidade do ponto de vista jurídico e urbanístico. Neste sentido, os comentários acima sobre a excepcionalidade do Estado devem ser tomados como contemporâneos da própria formação da cidade, e não como algum desvio pouco ortodoxo de seu desenvolvimento recente.
Essa brevíssima descrição não se refere apenas às características da exploração econômica vinculada à produção física da cidade, que está por baixo da série de catástrofes anunciadas das cidades brasileiras como um todo, e do Rio de Janeiro em particular. Ela diz respeito, também, ao que me parece ser o fundamento da dominação política. Regulando certas partes da cidade e certas atividades urbanas e não outras, o Estado não está se omitindo destas últimas: está controlando o acesso à cidade e, dessa forma, dificultando e canalizando boa parte do esforço reivindicatório dos trabalhadores. Em síntese: o Estado cria suas margens, e delas retira sua força.
Primeira conclusão: o culpado, não pelo fenômeno da natureza, mas pela extensão de suas consequências, é nosso Estado de exceção. E, como o Estado, pelo menos em todas as sociedade ocidentais como a nossa, é uma relação social da qual ninguém escapa, todos somos culpados. Porém, na hierarquia das responsabilidades pela tragédia, os menos culpados, ou seja, os contingentes com mais precário acesso à cidade, são justamente os que têm sido desde sempre apresentados não como vítimas, mas como autores de sua própria desgraça. Sua ilegalidade, que no mais da vezes é real, mas imposta, é convertida em falha de caráter, ou seja, em esperteza ou ignorância.
2. Ao nível da água. O que todos sabem, mas fica entre parênteses.
Não sejamos ingênuos. Há muita exploração e dominação entre a massa de trabalhadores, que pode ser até mais virulenta que a do “sóbrio capitalismo burguês” ao qual se referia Max Weber. No primeiro artigo que escrevi sobre favelas (em 1967!) eu já usava a metáfora de uma “burguesia favelada”, para me referir a estas formas menores (porque intersticiais e não decisivas no processo de acumulação) de capitalismo e política nas favelas. Atualmente o capitalismo nas favelas é muito mais pujante, como todo mundo reconhece, embora continue intersticial e não decisivo. Mesmo um grande proprietário ou “incorporador” nas favelas do Rio atual, embora integre sua elite, não é comparável, em termos de disponibilidade de capital ou influência política, às grandes empresas do setor. O mesmo pode ser dito a respeito das demais atividades econômicas nessas localidades.
Não sejamos ingênuos. Há muita exploração e dominação entre a massa de trabalhadores, que pode ser até mais virulenta que a do “sóbrio capitalismo burguês” ao qual se referia Max Weber. No primeiro artigo que escrevi sobre favelas (em 1967!) eu já usava a metáfora de uma “burguesia favelada”, para me referir a estas formas menores (porque intersticiais e não decisivas no processo de acumulação) de capitalismo e política nas favelas. Atualmente o capitalismo nas favelas é muito mais pujante, como todo mundo reconhece, embora continue intersticial e não decisivo. Mesmo um grande proprietário ou “incorporador” nas favelas do Rio atual, embora integre sua elite, não é comparável, em termos de disponibilidade de capital ou influência política, às grandes empresas do setor. O mesmo pode ser dito a respeito das demais atividades econômicas nessas localidades.
Também é fato que a grilagem de terras urbanas sempre foi bastante difundida, enquanto isto era viável, pois hoje há pouca terra passível de ser grilada no Rio de Janeiro. Neste quesito, porém, os favelados não estão sozinhos. Muito mais importantes do que eles são os proprietários de loteamentos (pessoas individuais ou empresas), responsáveis pelo parcelamento de enormes glebas da cidade, quase sempre com inúmeras irregularidades. Isto, porém, não altera a característica básica do desenvolvimento urbanístico da cidade segundo a produção conjugada do Estado de exceção e de suas margens: favelas e loteamentos crescem em área e população como uma cebola que se descasca: dentro das favelas, regiões cada vez mais precárias, progressivamente melhoradas com muito esforço para darem lugar a novas sub-regiões, etc; variáveis ilicitudes na incorporação de loteamentos, criação de favelas nos loteamentos, “sub-loteamentos” dentro de loteamentos, etc.
Acima da linha d’água. Os termos explícitos do debate.
“Até quando teremos que assistir o Rio sendo depredado por invasores que depois se transformam em vítimas de sua própria esperteza? “(Opinião de um leitor sob o título “Favela em risco”, O Globo, 17-04-2010, p.08)
“No Rio de Janeiro, a remoção de favelas passou a ser um grande tabu, sustentado por um assistencialismo barato segundo o qual o estado deve prover tudo aos pobres dos morros – ainda que sua permanência ali possa pôr a própria vida em risco e acarretar prejuízos à cidade como um todo. A idéia absurda embutida nesse raciocínio é a de que quem vive em favela é um cidadão especial que não precisa se submeter nem à Constituição e não tem os mesmos deveres dos outros brasileiros “(Sérgio Besserman; entrevista a Mônica Weinberg e Ronaldo Soares, Veja – Páginas Amarelas, 21-04-2010, pgs. 17-21).
“O sociologismo de almanaque posto a serviço da grita contra as remoções sugere que ninguém escolhe morar em áreas de risco ou em condições de vida degradantes. Isso não é argumento, mas obviamente um consenso. O problema está em, ao abrigo de tal enunciado, tentar obstruir ações inadiáveis, com a falsa lógica de que as pessoas vivem em tais condições por falta de opções.” (“Nossa Opinião”, O Globo, 24-04-2010, p.06).
As citações acima, ressalvadas as variações na virulência, sofisticação e acabamento, são praticamente iguais. Elas expressam a opinião dominante, pelo menos quanto à população que lê jornais, e a uma boa parte dos “formadores de opinião”.
De minha parte, eu visto as duas carapuças, a do “sociologismo de almanaque” e a relativa à “idéia absurda” de que “quem vive em favela é um cidadão especial” (posto nesta condição não pela Carta Magna ou pelo assistencialismo barato, mas pelas operações de poder que produzem nosso Estado de exceção), como já deve ter ficado claro nas seções anteriores. Porém não aceito os argumentos que sustentam a (des)qualificação correspondente. Os entrevistadores da Revista Veja apresentam Sérgio Besserman como uma das autoridades que podem falar de “favelização” com conhecimento de causa. Eu concordo: ele obteve por mérito próprio credenciais que o situam nesta posição, além de que sua atuação pública leva a crer que tudo o que ele diz visa tão somente o bem público. Uma vez que convergimos ambos neste último ponto (“alguma coisa temos em comum”, como no anúncio…) estabeleço, nesta seção final, um diálogo em torno dos principais aspectos do conteúdo da entrevista, a qual tomo como uma exposição fiel do pensamento que considero exemplar da opinião acadêmica mais próxima dos atuais formuladores das políticas públicas.
Besserman: “Antes de tudo, é preciso começar a tratar essa questão [os “muitos casos em que a remoção se justifica”] com a objetividade que ela requer, longe da sombra da ideologia e dos interesses escusos”.
Tratar a questão racionalmente e com a objetividade que ela requer, afastando a ideologia, demanda em primeiríssimo lugar explicitar a perspectiva valorativa que sustenta a racionalidade das políticas públicas propostas. Sem fazê-lo, o argumento necessariamente cai sob a “sombra da ideologia”, que se nutre exatamente das meias verdades que apresentam pontos de vista e aspectos particulares como se fossem universais. Eis a perspectiva de Besserman:
Sérgio Besserman: “Não há como discordar da idéia de que alguém que tenha seu barraco fincado sob os restos de um antigo lixão, como é o caso de dezoito favelas do Rio, deve ser retirado imediatamente de lá. O mesmo vale para quem tem a casa espetada à beira de um precipício, em flagrante situação de risco Até aí, prevalece um relativo consenso. No entanto, é preciso ir além, encarando uma questão de fundo econômico que é central mas foi posta de lado no debate: as áreas favelizadas provocam uma acentuada degradação da paisagem da cidade, um ativo cujo valor é incalculável. Portanto, quando uma análise de custo-benefício revelar que a realocação de uma favela trará retorno financeiro e social elevado, por que razões não cogitar sua remoção?”
Aqui, há dois problemas. Primeiro. De fato, que eu saiba ninguém jamais discutiu que, onde há risco de desabamento, há necessidade de remoção. Porém o consenso é realmente muito relativo, porque, se “não há como discordar” deste ponto, pode-se discordar (como eu, por exemplo) da maneira unilateral, autoritária e sem nenhuma transparência pela qual são definidas as áreas de risco. Além disso, no caso de risco verdadeiro, pode-se discordar (como eu, por exemplo) da maneira pela qual a remoção foi e tem sido conduzida, atualmente a pretexto da urgência, com claro desrespeito à dignidade das famílias afetadas.
O argumento, entretanto, não se limita ao risco. É generalista, saltando do fundamento geofísico da remoção para a “degradação” do potencial econômico da cidade representado pela “favelização”. De fato, pode haver casos em que a remoção se justifica – se e quando for o resultado de um amplo e absolutamente indispensável debate público, que deve incluir as condições da remoção, o destino dos removidos, etc. –, em virtude de necessidades coletivamente reconhecidas de desenvolvimento da economia urbana. Nada disso, porém, é mencionado por Sérgio Besserman, que se limita ao argumento técnico de uma relação custo-benefício que nunca é publicamente demonstrada. Como o salto do risco de vida para o raciocínio econômico é muito rápido, de passagem sugiro que é urgente definir com clareza o fosso que separa esses dois fundamentos para propostas de remoção – as “áreas de risco” e as vantagens para o desenvolvimento urbano –, como forma de dificultar o aproveitamento dos funestos resultados do temporal pela grande especulação imobiliária que todos sabemos existir.
Isto remete ao segundo problema “de fundo”, que também reúne vários aspectos. O mais chocante é o absoluto silêncio quanto ao maciço investimento (em tempo de trabalho especialmente, lembremo-nos da referência à “superexploração”) dos favelados em suas casas e, mais amplamente, nas áreas coletivas de suas localidades. Muito embora a análise custo-benefício seja apresentada por Sérgio Besserman como um antídoto à “sombra da ideologia” e uma condição da objetividade do argumento, a destruição do valor agregado às favelas pelo esforço de gerações de moradores, quando este é definido como “degradação da paisagem urbana”, não poderia mesmo ser incluída na rubrica “custo”. Quero lembrar que não estou discutindo o reducionismo economicista contido na compreensão das cidades como um recurso econômico, nem tampouco a idéia geral-abstrata de um “retorno social” que evita mencionar o aspecto crucial da desigualdade inerente ao capitalismo, isto é, desconhece que o “retorno” – mais claramente, a apropriação econômica dos “benefícios” da remoção – está longe de ser equitativo. Estes aspectos levariam a questões filosóficas e de método que nos desviariam do assunto específico aqui tratado.
Outro aspecto desta mesma questão, sobre o qual também não quero me alongar, diz respeito à idéia de “paisagem urbana”. Trata-se de um eufemismo para discutir ou, mais precisamente, para propor uma intervenção, sobre a apropriação do território da cidade tal como ela vem ocorrendo na prática atual da acumulação e da divisão do trabalho. A proposta é “racionalizar”, por meio das remoções, a ocupação física da cidade, de modo a favorecer seu uso como recurso produtivo difuso (“ambiente de negócios”) e, assim, estimular o desenvolvimento urbano (cfr. Sérgio Besserman: “A experiência internacional mostra – e o caso brasileiro confirma – que a presença maciça de favelas afeta o ambiente de negócios e faz reduzir as chances de uma cidade competir globalmente”). Admita-se que o objetivo deva ser elevar a competitividade do Rio de Janeiro. Quanto a esta finalidade, mais uma vez, “não há o que discordar”. Mas pode-se, continuando a operar com a lógica da relação custo-benefício tão cara ao entrevistado, indagar se as remoções seriam os meios mais adequados para atingir tal meta. Minha resposta é: não. Intervenções que visem desobstruir o que chamei acima de “acesso à cidade”, sustentadas pelo estímulo a um debate público capaz de produzir uma ampliação das condições materiais de exercício da cidadania pelos subalternos, podem demonstrar-se mais “rentáveis”, e mesmo produzir resultados mais rápidos. Sem contar, é claro, que seriam bem mais democráticas.
Para terminar o diálogo, eu gostaria de fazer um último comentário.
Sérgio Besserman: A Lagoa Rodrigo de Freitas, cartão-postal da Zona Sul carioca, é um caso emblemático dos aspectos positivos que podem se seguir a uma remoção. Quando uma favela foi retirada dali, em 1970, os imóveis da região, cujos valores vinham sendo depreciados, inverteram a curva e passaram a se valorizar, aumentando a riqueza do bairro e da cidade, em benefício de todos.
Não conheço estimativas a respeito, mas admitamos que a destruição dos “ativos” (os barracos) dos favelados tenha sido mais do que compensada pela valorização dos “ativos” do entorno. Em primeiro lugar, para continuar nesta linha de reflexão, é mais do que evidente que tal processo embute, na prática, uma transferência financeira dos favelados para os moradores do bairro, até porque não há nenhuma indicação de que os removidos tenham se beneficiado com consequências indiretas da remoção. De minha parte, acredito que as condições materiais (para não falar das sociais, culturais, etc.) de vida deste contingente provavelmente terão piorado. Desse modo, ainda que a soma do jogo tenha sido maior do que zero, este resultado está longe de indicar que todos os jogadores se beneficiaram.
Mas há um outro aspecto, específico da remoção desta favela, que diz respeito à forma como ela foi “retirada”, para usar a mesma expressão da entrevista. Todos sabem, até porque foi um assunto candente na época, que a resistência dos moradores foi quebrada pela mais explícita violência: a prisão dos líderes e o incêndio do local (que foi sabidamente criminoso, embora isso nunca tenha sido provado). Considero que uma análise que se pretenda livre de ideologia, objetiva e racional das remoções não deveria ter omitido este aspecto.
Clique aqui e leia a versão em pdf.
* Originalmente publicado em “Democracia Viva” nº 45 – www.ibase.org.br
Última atualização em Qua, 05 de Maio de 2010 20:34