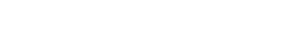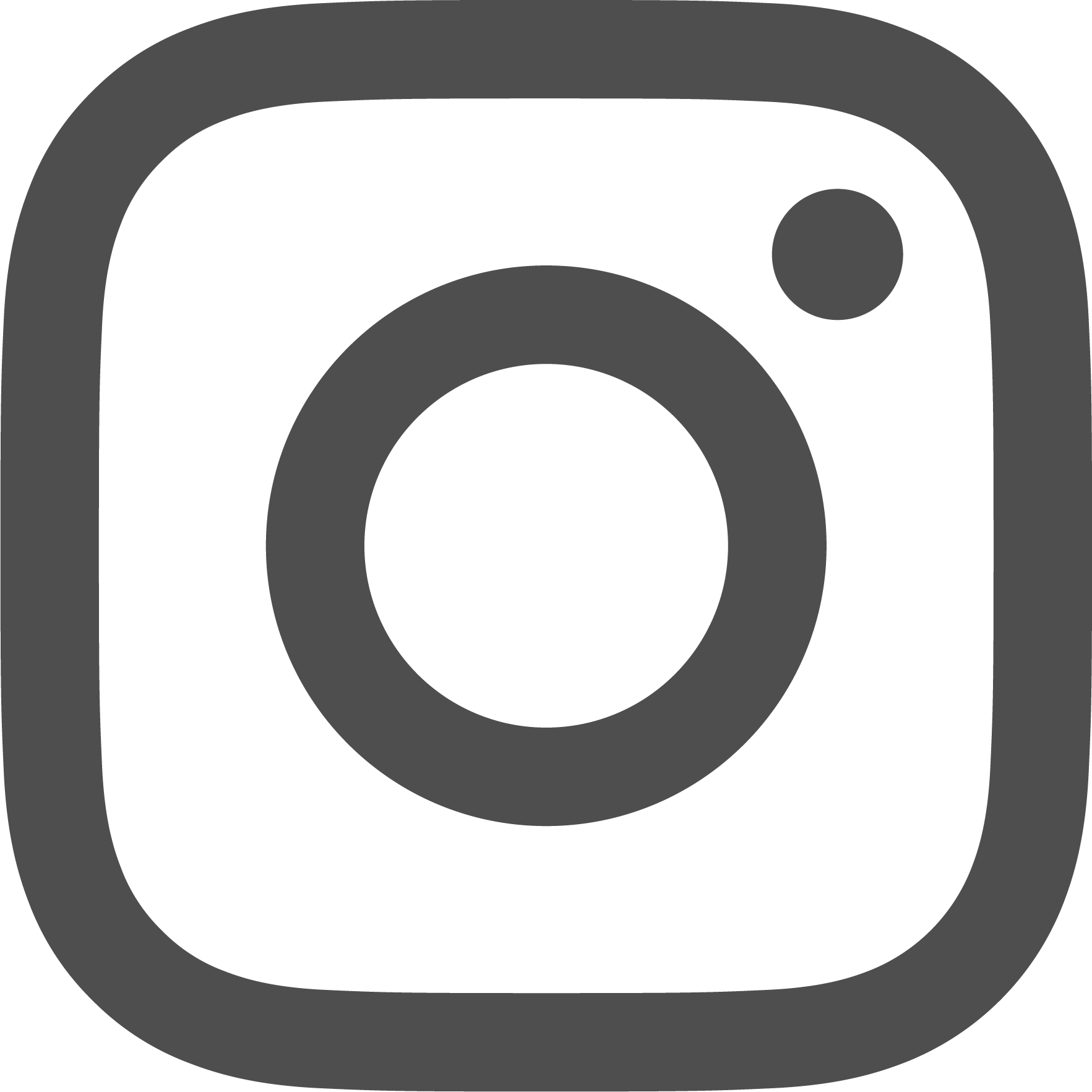Nelson Diniz¹
De todas as medidas adotadas para conter a pandemia do coronavírus (COVID-19) no Brasil, a suspensão das atividades escolares está entre as de maior impacto, tanto no que diz respeito ao controle da propagação do vírus quanto às mudanças na dinâmica de reprodução social. A suspensão dessas atividades, largamente difundida em escala global, tem o potencial de diminuir drasticamente o movimento e a interação das populações nas grandes metrópoles. Basta pensar na sensível redução no trânsito de veículos que se verifica no período das férias escolares e acadêmicas, em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo – ainda que, nesse caso, não se trate de férias e, portanto, essa redução não pode significar aglomerações de outra natureza, como tendeu a ocorrer inicialmente. Ao mesmo tempo, essa suspensão impõe uma mudança radical nos modos como a vida é conduzida. Isso porque o simples funcionamento dos sistemas de ensino, sobretudo os da educação básica, são indispensáveis não só para preparar a reprodução social futura, mas também para garantir que ela ocorra no presente.
Em termos simples, quando os adultos precisam trabalhar, o que envolve condições cada vez mais precárias em um país com aproximadamente 40 milhões de trabalhadores informais, para onde vão as crianças? A maioria vai para as escolas. Um movimento que corresponde, de um lado, às apostas das famílias na possibilidade de ascensão ou manutenção da posição social via educação escolar e, de outro, à busca por um ambiente relativamente seguro para essas crianças, no qual, por exemplo, elas possam, além de aprender, se alimentar com qualidade. É o que indica a demanda pela necessária política de transferência para as famílias dos recursos monetários e/ou na forma de produtos que, na normalidade, compunham a merenda escolar das redes públicas de ensino. Em suma, enquanto e para que os adultos de hoje trabalhem, as gerações subsequentes estão sendo formadas nas escolas, por intermédio de um processo que compreende não apenas a aprendizagem. E esse processo não pode ser interrompido sem maiores consequências.
Foi nesse contexto que se estabeleceu um intenso debate em torno do que fazer nas circunstâncias de interrupção das atividades escolares. Simultaneamente, as primeiras respostas ao problema foram dadas de maneiras mais ou menos espontâneas ou reguladas pelas autoridades. Nesse sentido, é necessário refletir sobre esse debate e essas respostas tendo em vista os componentes fundamentais da crise, ou melhor, das crises que estão em curso e que vão muito além da urgente dimensão sanitária.
Destaque-se, em primeiro lugar, as ações no sentido da substituição das dinâmicas do espaço escolar por diferentes modalidades de Educação à Distância (EaD). Essas ações já foram iniciadas, principalmente, nas redes privadas de ensino, muito provavelmente porque elas precisam, além de atender ao que é próprio do cuidado com o processo educacional, em sua dimensão humana, justificar a continuidade dos contratos e do pagamento de mensalidades, sem a qual, a princípio, ficaria comprometida sua capacidade de arcar com os salários de professores e professoras.
A questão dos salários possui, em tese, uma solução relativamente simples. Não estamos vivendo um momento de normalidade do funcionamento dos mecanismos econômicos. De fato, como tem sido repetido, a situação presente se assemelha, em muitos aspectos, à de uma economia de guerra. Portanto, mais do que nunca, o Estado brasileiro, como ocorreu em vários países, deve atuar para garantir segurança no emprego e renda, além das condições para que se preserve a vida e a saúde das pessoas, o que é mais importante, nesse momento, do que qualquer outra dimensão do problema. Essa é uma das principais formas de minimizar as consequências sociais e econômicas da atual crise sanitária, com efeitos relativamente imediatos na manutenção da demanda efetiva.
Seja como for, é preciso recordar que, ao menos desde 2007-2009, já vivíamos um quadro de deterioração das condições sociais e econômicas, com repercussões geograficamente desiguais ao redor do mundo. Após os eventos iniciados com a crise das hipotecas “subprime”, nos Estados Unidos, a falência do Lehman Brothers e a subsequente Grande Recessão, uma série de países passou por graves problemas econômicos, precipitando mudanças radicais em várias esferas da vida, consolidadas na etapa de recuperação pós-crise.
Por exemplo, a crise da dívida e o crescente déficit fiscal de países da Zona do Euro, como Portugal, Grécia, Itália, Irlanda e Espanha, provocados, principalmente, pelas operações de resgate do sistema bancário e financeiro, foram mobilizados como justificativa de reformas no sentido da supressão de direitos e garantias remanescentes do período de predomínio do Estado de Bem-Estar Social. No Oriente Médio e no Norte da África, diversas revoltas populares, que respondiam tanto às questões imediatas relacionadas com a crise, como a inflação dos alimentos, quanto à perpetuação, por décadas, de regimes políticos autoritários, deram lugar a conflitos prolongados ou mesmo guerras civis, como na Síria e na Líbia. Conflitos diretamente associados ao agravamento da questão migratória e à crise dos refugiados na Europa. E ainda há vários outros exemplos internacionais que evidenciam como a última crise mudou o mundo.
No que se refere ao Brasil, pode-se chegar a um raciocínio parecido, ainda que a crise brasileira tenha condicionantes internos fundamentais, não só em termos de condução da política econômica, mas, igualmente, no plano das disputas políticas e institucionais. A recessão dos anos 2015-2016 e o baixo crescimento do período 2017-2019 contribuíram para uma sequência de transformações na legislação trabalhista-previdenciária, bem como para desencadear um novo processo de reestruturação produtiva em compasso com a dinâmica global e com tendências recentes do mundo do trabalho, como a “uberização”. Note-se que essas tendências foram difundidas especialmente após a última crise financeira e que não há dúvidas de que essa reestruturação terá consequências permanentes no âmbito das mais diversas profissões. Mas o que se deve sublinhar é que as circunstâncias criadas pela atual crise sanitária têm o potencial de acelerar ainda mais esse processo.
Considere-se, para fins de ilustração, a instituição da telemedicina. No Brasil e no mundo, essa nova forma de oferecer serviços médicos foi, até agora, objeto de muita controvérsia. No entanto, a pandemia de COVID-19 foi mais do que suficiente para, no caso brasileiro, justificar a aprovação do Projeto de Lei (PL) nº 696/2020, que dispõe sobre o “exercício da medicina mediado por tecnologias para assistência, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde”² (p. 2). Segundo o PL nº 696/2020, os efeitos dessa medida permanecerão em vigor ao menos enquanto durar a pandemia, mas o projeto também prevê a ampliação dessa modalidade de atendimento quando a crise sanitária for superada.
Aqui, não se trata de fazer juízos de valor ou de oferecer opiniões e respostas para problemas práticos, a exemplo do que foi dito acima sobre os salários de professores e professoras. É bem possível que o apelo à telemedicina evite o contágio de uma parte importante da população e cumpra o papel de atender a outras demandas relacionadas à saúde humana. De todo modo, o que se quer ressaltar, em suma, são elementos para a análise da situação presente e de seus desdobramentos futuros. Para tanto, sugere-se que a pandemia do coronavírus pode funcionar como um catalisador de mudanças radicais no processo de trabalho de categorias profissionais como médicos, bancários, comerciários, dentre tantas outras, além das que já estavam mais diretamente submetidas aos ritmos e às lógicas da “platform economy”, “Gig economy”, etc.
Tudo isso não poderia deixar de influenciar a complexa esfera da realização do trabalho material e imaterial dos profissionais da educação. Com efeito, ao menos desde o início do século XXI, há uma longa trajetória de introdução de novas tecnologias da informação e da computação no âmbito do trabalho docente. Plataformas como Moodle, Google Classroom e Edmodo estão cada vez mais presentes nas dinâmicas de comunicação e treinamento de professores e professoras, bem como na sua relação com os estudantes, tanto no que concerne à difusão de conteúdos quanto aos processos de avaliação. No Estado do Rio de Janeiro, o sistema Conexão Educação transpôs para o espaço virtual tarefas como o lançamento de notas e o controle de frequências em diários. Iniciativas semelhantes foram tomadas nas demais redes privadas e públicas de ensino, provocando muita controvérsia e resistência em torno, por exemplo, da duplicação de tarefas. Muitos docentes já atuam não só em salas de aula convencionais, mas também em salas de aula online e/ou produzindo videoaulas. Há plantões de dúvidas que recorrem a programas de videoconferência como o Skype ou o Google Hangouts. A onipresença de redes sociais como o WhatsApp elevou ao paroxismo um atributo secular do trabalho docente: o prolongamento das tarefas fora do espaço escolar e além da jornada formal. Tarefas são executadas até o último minuto antes de dormir. E, tenha-se em mente, quando o espaço e o tempo do trabalho não estão bem delimitados, corre-se o risco de aumentar demais o desgaste da força de trabalho, uma vez que o tempo de reposição de suas energias é consumido em atividades produtivas.
A Educação à Distância (EaD) e as tecnologias incorporadas às práticas educacionais não são ponto pacífico, e não parece que venham a ser pacificadas durante o período de isolamento social. Portanto, importa mais sugerir que as respostas à interrupção das atividades escolares, durante a pandemia de COVID-19, tendem a operar no sentido de um conjunto de experimentos, mais ou menos atomizados, que torna a força de trabalho docente mais propensa a se acomodar, no futuro, às novas maneiras de organização do seu processo trabalho. Há diversos relatos acerca de profissionais da educação que, diante das atuais circunstâncias, se viram obrigados a lidar com a situação sem o necessário tempo de reflexão sobre o que está em curso, sem treinamento e sem a mínima familiaridade com as novas técnicas e modalidades de ensino. Anúncios de redes privadas de ensino repetem, em geral com conotação positiva e acrítica, argumentos como o seguinte: “A ciência demorou séculos para ir do analógico ao digital, mas os professores tiveram apenas alguns dias para fazer isso na educação”. Trata-se de algo semelhante ao que ocorre na esfera do consumo, na medida em que o distanciamento social facilita a acomodação das subjetividades às novas formas de consumo organizadas por empresas-aplicativos.
A rigor, o que foi dito acima não é bom ou ruim por definição, mas indica o potencial para uma reestruturação que pode transformar sensivelmente os termos da duração, da intensidade e mesmo da remuneração do trabalho docente. O que deveria ser objeto de análise para que os professores e professoras estejam preparados, daqui por diante, para impor algum controle e/ou resistência contra as tendências que, eventualmente, signifiquem uma deterioração de suas condições de trabalho e de reprodução.
Toda grande crise sistêmica do capitalismo deu lugar a profundas mudanças no mundo do trabalho e, provavelmente, não será diferente com a crise contemporânea. Ademais, é preciso recordar que, atualmente, funciona uma lógica que Naomi Klein (2008) designou como a do “capitalismo de desastre”. Grosso modo, pode-se recorrer à perspectiva da autora para sustentar que grandes catástrofes, “naturais” e/ou socialmente produzidas, têm sido mobilizadas para abrir novas fronteiras de acumulação e justificar abruptas inflexões nas formas de organização da vida econômica e social. Nas palavras da autora: “Eu chamo esses ataques orquestrados à esfera pública, ocorridos no auge de acontecimentos catastróficos, e combinados ao fato de que os desastres são tratados como estimulantes oportunidades de mercado, de ‘capitalismo de desastre’” (p. 15). É amplamente recomendável que professores e professoras conheçam seu relato sobre a substituição das escolas públicas de Nova Orleans, destruídas pela passagem do furacão Katrina, em 2004, pelas chamadas “charter schools”, que adotam uma lógica de gestão privada. Os demais relatos da autora, ao redor de mudanças que advieram de catástrofes como terremotos, tsunamis e guerras são igualmente relevantes para compreender o que pode ocorrer, no curto, médio e longo prazos, a partir do momento em que a atual crise sanitária esteja controlada.
Considere-se, em segundo lugar, as tentativas de pôr em funcionamento, durante a atual pandemia, iniciativas de EaD nas redes públicas de educação básica do país. Nesse aspecto em particular, como no caso da possível reestruturação do trabalho docente, é necessário estabelecer elementos básicos para uma análise crítica do que está em curso.
Antes da atual crise econômica e da emergência da crise sanitária, para a qual se espera que uma solução definitiva seja encontrada o mais rápido possível, o Brasil já vivia uma crise urbana de caráter estrutural. As desigualdades sociais, em países como o nosso, possuem um complexo componente socioterritorial. E, como observam Ribeiro et al (2010), conceitos tais como os de segmentação territorial e segregação residencial podem ser acionados para entender “vários mecanismos que bloqueiam o acesso efetivo de certos grupos à estrutura de oportunidades provida pelo Estado, pelo mercado e pela sociedade civil” (p. 10). Algo que é absolutamente verdadeiro no que tange à “aquisição pelas crianças e jovens dos pré-requisitos normativos, cognitivos e materiais necessários à transmissão de conhecimento pretendida pela Escola” (p. 13).
A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, possui uma população de aproximadamente 2 milhões de habitantes vivendo em favelas, superando os números absolutos de capitais como Porto Alegre, Recife, Curitiba e Manaus³. Levando-se em conta não apenas as estatísticas demográficas, mas, principalmente, as distintas caracterizações sociológicas, geográficas e antropológicas do que são as favelas, será mesmo pertinente e/ou viável colocar em movimento iniciativas de EaD para atender aos estudantes que vivem nesses espaços?
Não se trata de reproduzir narrativas estigmatizantes ou que reduzem a complexidade do que são as favelas ou do que são as demais configurações de habitação popular em cidades como o Rio de Janeiro. Mas é bem provável que uma política como essa não consiga atingir, com qualidade, grande parte dos estudantes. Um raciocínio que, sem dúvida, é válido para quase todas as redes municipais e a rede pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro, assim como de outros estados da Federação. Se há situações em que, no limite, não existem recursos para, por exemplo, garantir medidas mínimas de controle epidemiológico, como água e sabão, o que dizer dos equipamentos e redes de infraestrutura que permitam o acesso a ambientes e plataformas de EaD?
O que está posto, no caso brasileiro, é que as soluções para os graves problemas oriundos da pandemia de COVID-19 não podem perder de vista as especificidades de nossa formação histórico-social. Qualquer iniciativa que não leve em consideração essas especificidades está fadada ao fracasso ou, na melhor das hipóteses, à pura formalidade. Agir como se todos os estudantes das redes municipais, estaduais e mesmo federal de ensino tivessem condições semelhantes de acesso às soluções para a interrupção da normalidade da vida escolar pode, no extremo, reforçar desigualdades, sobretudo as de caráter socioterritorial. Pode-se objetar que sejam atendidos, primeiro, os que têm acesso a essas soluções e que, em seguida, outros mecanismos sejam articulados para contemplar os demais. Sendo assim, deve-se tomar todo o cuidado possível para que, nessa trajetória, uma multidão de meninos e meninas não seja simplesmente esquecida, abandonada.
Além disso, o que será feito com os estudantes portadores de necessidades específicas? As leis em vigor no país exigem que eles sejam atendidos em conformidade com suas necessidades. As tecnologias que estão à disposição dos professores e professoras permitem esse tipo de atendimento? Se já é extremamente complexo mediar essas especificidades em ambientes reais, o que dizer dos virtuais? O caso desses meninos e meninas também será deixado para depois, sob pena de ser simplesmente esquecido?
Em síntese, toda e qualquer solução para os problemas com os quais a sociedade brasileira está enfrentando não pode negligenciar o que é, de fato, o Brasil, em especial o que são as desigualdades urbanas, regionais, raciais, de gênero, dentre outras, que conformam e são conformadas por nossa estrutura social. Repita-se, não se trata, também nesse caso, de oferecer respostas práticas, mais ou menos simples, mas de sublinhar os termos principais da análise da situação presente. E essa análise não pode deixar de lado os condicionantes do acesso desigual a oportunidades educacionais no país.
Considere-se, por fim, os significados e as consequências mais profundos de estarmos submetidos a uma situação que exige que as escolas estejam fechadas. Além de todas as crises supramencionadas, o Brasil e o mundo passam por uma crise civilizatória. Ao referir-se a essa crise, Chesnais (2010), por exemplo, destaca sua expressão em dimensões como a da segurança alimentar das populações mais vulneráveis, em continentes como a África e a Ásia, e a dos impactos globais das mudanças climáticas. Não é fácil definir nem datar, com precisão, o início dessa crise, mas, ao menos desde os anos 1970, um conjunto de transformações econômicas, políticas, culturais e ambientais contribuíram para desestabilizar os parâmetros de reprodução social, materiais e simbólicos, próprios do advento do projeto da modernidade. E esse parece ser um critério ainda mais pertinente para se falar em crise civilizatória. Desde então, ou mesmo antes, os principais valores e instituições desse projeto têm sido objeto de reflexão crítica a partir de um amplo espectro de perspectivas e visões de mundo. Também não é simples definir a modernidade e aqui não há espaço para resumir as vertentes que se ocupam de suas contradições.
O que se quer ressaltar, então, é que essa crise civilizatória, uma vez associada aos efeitos da última grande crise financeira do capitalismo, abriu espaço para um forte movimento de erosão de alguns dos valores básicos da vida moderna, os quais, mesmo incompletos ou imperfeitos, mantinham um mínimo de estabilidade em domínios como o das disputas políticas e ideológicas. Pode-se recorrer aos argumentos de Levitsky e Ziblatt (2018) para afirmar que a rejeição das regras do jogo democrático, ou o compromisso débil com elas, a negação da legitimidade dos oponentes políticos, a tolerância ou encorajamento à violência e a propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive da mídia, são traços fundamentais para discernir a ascensão desse tipo de movimento na esfera política.
Tão ou mais relevante para assegurar o mínimo de estabilidade social, a confiança em alguma noção de verdade e nos fatos objetivos está sendo rapidamente deslocada do papel que cumpriu até aqui. A adesão ao terraplanismo, aos movimentos antivacinas e às tentativas pseudocientíficas de contestar a evolução, facilitadas pela produção e difusão das chamadas “fake news” e por novas modalidades de fundamentalismo religioso, são sintomas graves desse deslocamento.
Assim, apesar de também estar em crise, ainda é decisivo que a Escola, como instituição cujas origens remontam, igualmente, ao contraditório e limitado projeto da modernidade, ofereça o que for possível para que certos valores não sejam completamente deslocados, agravando as consequências da atual crise civilizatória. Quem, dentre nós, professores e professoras, não é capaz de relatar o caso de ter visto um estudante entrar em contato, pela primeira vez em sua vida, com instituições ou experiências como um museu ou uma sessão de cinema? Não se trata das acusações de doutrinação ou proselitismo ideológico. A verdade é que a Escola garante, há muito tempo, mesmo que com dificuldades crescentes, a transmissão de alguns dos principais valores da vida moderna, como a confiança no conhecimento científico, que não é infalível nem totalmente avesso à contestação. Muito ao contrário, sua difusão e consideração devem ser conduzidas sem excluir outras formas de representar o mundo, como a arte, a filosofia e os saberes populares.
Enfim, enquanto a normalidade das atividades nos espaços escolares estiver suspensa, esse mínimo de transmissão de valores, experiências e saberes fica comprometido. E há que se desejar que esta situação seja superada rapidamente, sem que, diga-se novamente, a saúde humana e a qualidade do ensino sejam prejudicadas. E sem que os principais agentes envolvidos nessa mesma situação deixem de ter consciência e algum tipo de controle sobre as transformações que estão em curso.
____________________________________________________________________
¹ Doutor em Planejamento Urbano e Regional pelo IPPUR/UFRJ, professor do Departamento de Geografia do Colégio Pedro II e pesquisador do Observatório das Metrópoles Núcleo Rio de Janeiro.
² Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2239462.
³ Conforme dados do último censo demográfico realizado pelo IBGE, em 2010, Porto Alegre, Recife, Curitiba e Manaus teriam, respectivamente, 1,409, 1,555, 1,765 e 1,793 milhão de habitantes.
REFERÊNCIAS
CHESNAIS, François. Crise de suraccumulation mondiale ouvrant une crise de civilisation. Inprécor, n. 556-557, 2010. Disponível em: http://www.inprecor.fr/article-Crise-de-suraccumulation-mondiale-ouvrant-sur-une-crise-de-civilisation?id=859. Acesso em 04/04/2020.
KLEIN, Naomi. A doutrina do choque: a ascensão do capitalismo de desastre. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.
LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. Como as democracias morrem. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.
MEIRELLES, Renato; ATHAYDE, Celso. Um país chamado favela: a maior pesquisa já feita sobre a favela brasileira. São Paulo: Gente, 2014.
RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz; KOSLINSKI, Mariane C.; ALVES, Fátima; LASMAR, Cristiane. Apresentação. In: RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz; KOSLINSKI, Mariane C.; ALVES, Fátima; LASMAR, Cristiane (Org.). Desigualdades urbanas, desigualdades escolares. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2010.