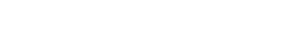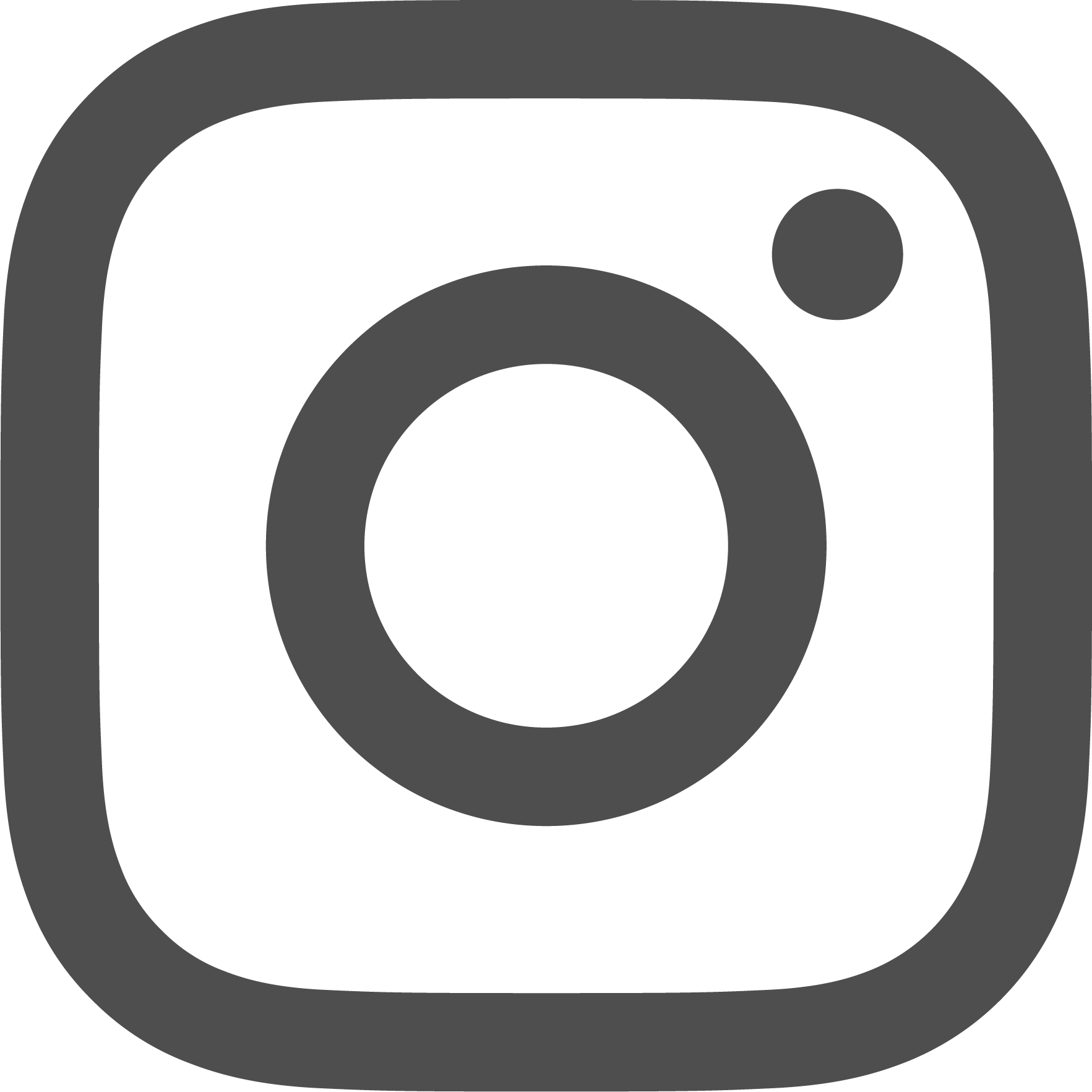Na entrevista da edição nº 30 da Revista e-metropolis, o engenheiro e sociólogo Eduardo Vasconcellos fala sobre sua trajetória no campo da mobilidade urbana. Além de tratar de questões atuais, como os custos sociais decorrentes da motorização individual e o debate sobre a tarifa zero nos transportes, Vasconcellos resgata sua experiência na África, especialmente em Moçambique e África do Sul, destacando que nesses países encontrou problemas muito semelhantes aos que enfrentamos no Brasil, e como essas características representam barreiras para a construção de políticas públicas de mobilidade voltadas para o transporte coletivo.
Na entrevista da edição nº 30 da Revista e-metropolis, o engenheiro e sociólogo Eduardo Vasconcellos fala sobre sua trajetória no campo da mobilidade urbana. Além de tratar de questões atuais, como os custos sociais decorrentes da motorização individual e o debate sobre a tarifa zero nos transportes, Vasconcellos resgata sua experiência na África, especialmente em Moçambique e África do Sul, destacando que nesses países encontrou problemas muito semelhantes aos que enfrentamos no Brasil, e como essas características representam barreiras para a construção de políticas públicas de mobilidade voltadas para o transporte coletivo.
Eduardo Vasconcellos é engenheiro civil e sociólogo, tem mestrado e doutorado em Políticas Públicas de Transporte na USP e pós-doutorado em Planejamento de Transportes na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Assessor da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) e do Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), é autor de Mobilidade Urbana e Cidadania.
ENTREVISTA COM EDUARDO VASCONCELLOS
Gostaria que você começasse falando um pouco da sua formação acadêmica, da sua trajetória profissional e como você chegou aos temas que você tem trabalhado ao longo do tempo e atualmente, o tema da mobilidade urbana, claro.
Eduardo Vasconcellos: Eu fiz Engenharia Civil. Depois que me formei, entrei na CET de São Paulo. Trabalhei primeiramente como engenheiro júnior e logo comecei a trabalhar como engenheiro de trânsito, aprendendo a calcular semáforo, fazer essas coisas todas que envolvem a gestão do trânsito na cidade. Essa experiência me deu uma certeza de algo que já desconfiava bastante. Dentro da escola de engenharia, quando eu fiz as cadeiras de urbanismo e outras semelhantes, já achava que transporte não era uma atividade exclusivamente de engenharia, de matemática, etc. Foi então que eu resolvi voltar para a universidade e fazer sociologia.
Passei então a juntar essas duas formações; a de engenheiro e sociólogo. Fiz o mestrado na Ciência Política da USP, com dissertação sobre a história do transito em São Paulo. Depois fiz o doutorado em Políticas Públicas. Nesse caso– pelo menos em parte – mudei o tema e fui estudar o problema do transporte das zonas rurais no Brasil paras crianças que tinham que ir para escola. Inclusive, esse é um tema no qual eu trabalhei como cidadão por 10 anos, abrindo inclusive uma escola na zona rural. Passei a ser, na terminologia da época, um engenheiro de trânsito. Hoje a gente fala mobilidade. No fundo eu passei a ser, vamos dizer assim, uma pessoa ativa na área. Trabalhei quase 10 anos na CET.
Nessa instituição eu desenvolvi uma série de projetos, já incluindo essa visão mais social, que na época não era muito bem-vinda, não se sabe porquê. Dentro da CET tinha muita resistência, inclusive. Mas foi por isso, acredito eu, que, hoje, a CET é bem mais aberta nesse aspecto. Nesse percurso eu também fiz consultorias pessoais, tanto para empresas como para governos. Para o governo de São Paulo, principalmente. Nos últimos 15 anos, tenho trabalho muito no exterior. Porque eu escrevi muito e criei muitas relações internacionais com grupos de pessoas que trabalham com a mobilidade e que tem um enfoque social e político, que é diferente da abordagem da engenharia. Então acabei trabalhando muito na África e também na América Latina. Principalmente agora que eu sou coordenador do Observatório da Mobilidade da América Latina, que já cobre 29 cidades. Na ANTP, que eu estou há 21 anos, sou assessor da associação e trabalho um pouco com tudo que envolve o que ela faz, estudos, congressos, opiniões, etc. Minha função também é representar a ANTP, mas com essa visão que mistura a técnica de engenharia com o social. E nessa instituição eu coordeno também o Observatório Brasileiro de Mobilidade, que cobre 530 cidades acima de 60 mil habitantes.
 Você poderia falar um pouco mais sobre essa sua experiência na África, que eu acho que deve ser bastante interessante e enriquecedora tanto do ponto de vista pessoal como profissional?
Você poderia falar um pouco mais sobre essa sua experiência na África, que eu acho que deve ser bastante interessante e enriquecedora tanto do ponto de vista pessoal como profissional?
EV. Na África, primeiramente, foi interessante porque eu trabalhei em Moçambique, um dos 15 países mais pobres do mundo. Lá eu fui contratado pela Organização
Mundial da Saúde, que naquela época tinha acabado de oficializar o tema de segurança de trânsito como um tema de saúde pública. Fique trabalhando lá – entre idas e vindas – uns 2 anos. Foi muito interessante porque é um país em que 70% das pessoas eram analfabetas e, no mínimo, metade até hoje não fala português, mesmo porque os portugueses não foram a todo o território. Os problemas de acidente estavam aumentando muito por causa da entrada de grandes caminhões nas rodovias. Além disso, começava a ter presença da motocicleta e dos automóveis da pequena classe média. Essa é a classe social do país que consegue comprar automóveis muito baratos, de segunda mão, que vem da Ásia ou que compram em Durban, na África do Sul. Foi uma experiência bastante interessante para ver como funciona o país. A língua é igual à do Brasil, mas a cultura é muito diferente. Além do que muita gente não fala português, então havia uma dificuldade muito grande de comunicar. Tudo que a OMS fazia, por exemplo, tinha que ser em português e mais uns três dialetos.
Nesse contexto, o projeto foi muito interessante, mas no final não deu certo em termos da aplicação. E isso é mais uma coisa que se aprende nesse tipo de experiência. E nós sabíamos o que deve ser feito em termos de segurança de transito, não precisamos entrar em detalhes e isso nem é grande novidade, mas é importante destacar que a principal dificuldade era como convencer a elite técnica e política deles de que isso devia ser feito. Foi interessante também porque eu pesquisei e descobri que já existia dentro de Moçambique um grupo importante de engenheiros que tinha conseguido se aproximar do Banco Mundial e que já estava formando uma espécie de microelite, que tomaria conta de todo o recurso disponível para os estudos, principalmente com rodovias.
Então esse nosso projeto seguiu um curso meio marginal em termos políticos, ninguém dizia que era absurdo, mas ninguém dava importância. O próprio Ministro de Transportes falou: “doutor Vasconcellos, nós não temos dinheiro para nada aqui”. Acontece que eu tinha estudado o orçamento, consultado algumas matérias de jornal, e descobri que tinha uns 300 milhões de dólares todo ano em Moçambique para fazer rodovia, que é o que interessava ao Banco Mundial. Então eu mostrei para ele que o nosso projeto ia custar 9 milhões de dó lares. Isso para fazer um trabalho grande de segurança de trânsito durante 6 anos. Portanto era perfeitamente possível. Contudo, eu sei, por informações que obtive depois, que praticamente nada foi feito. Então foi uma experiência muito boa do ponto de vista técnico e humano, mas frustrante do ponto de vista da solução, da aplicação.
Já na África do Sul eu participei da discussão anterior à Copa do Mundo para decidir se fazia ou não o corredor de ônibus BRT. Lá se deu também um grande conflito, como acontece no Brasil e também em toda América Latina. Trata-se do conflito que ocorre quando tentam substituir um microempresário, que tem seu próprio veículo e que na África do Sul são milhares, por outro sistema. Ou seja, como substituir essas pessoas, que têm vínculos políticos fortíssimos com políticos locais ou com o Governo Federal, para transitar a outro modelo, que é o modelo mais “abrasileirado”, de empresas formalmente constituídas, com os funcionários tendo direitos trabalhistas, etc. Nesse caso, o corredor acabou dando certo porque o governo federal interferiu e tomou algumas medidas, como mudanças nas leis que permitiram essa transição, embora o corredor hoje esteja com problemas de operação.
No estado onde fica a Cidade do Cabo eu fiz dois projetos. Teve um projeto semelhante de um grande corredor de ônibus na Cidade do Cabo que não conseguiu vencer a resistência dos perueiros e acabou não se implantando. Além disso, eu fiz um outro estudo mais geral para as Políticas de Transportes do Estado que se chama Western Cape. Na África do Sul a experiência foi um pouco diferente de Moçambique, mesmo porque junto com a Nigéria, se não me engano, é o país mais rico da África e, embora tenha uma diferença gigantesca entre as classes sociais, é, obviamente, um país tecnicamente muito mais avançado. Existem umas quatro ou cinco grandes consultoras de transporte na África do Sul. Com muito mais recursos financeiros, é um ambiente mais rico do ponto de vista de informação, de gente que “toma conta”, ao contrário de Moçambique. No entanto, em se tratando de transporte, continua com esse problema dos perueiros. Além do mais, persiste um problema importante do ponto de vista urbanístico, que é triste, mas é a realidade. Falo do espalhamento urbano das cidades da África do Sul provocado pelo Apartheid, onde muitas pessoas eram proibidas de morar na parte central onde moravam os brancos. Então existe um sistema parecido – eu até brinquei – com Brasília, que tem as cidades satélites. Trata-se, então, de um sistema muito caro porque as pessoas moram muito longe e tem pouquíssimo dinheiro para pagar a passagem. Além disso, os trens que os ingleses deixaram estão caindo aos pedaços, tornando o sistema muito difícil operar. Esse é o balanço bem resumido do meu trabalho na África. Considero que foi uma outra lição muito interessante.
Leia a entrevista completa no site da Revista e-metropolis.