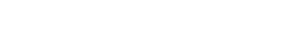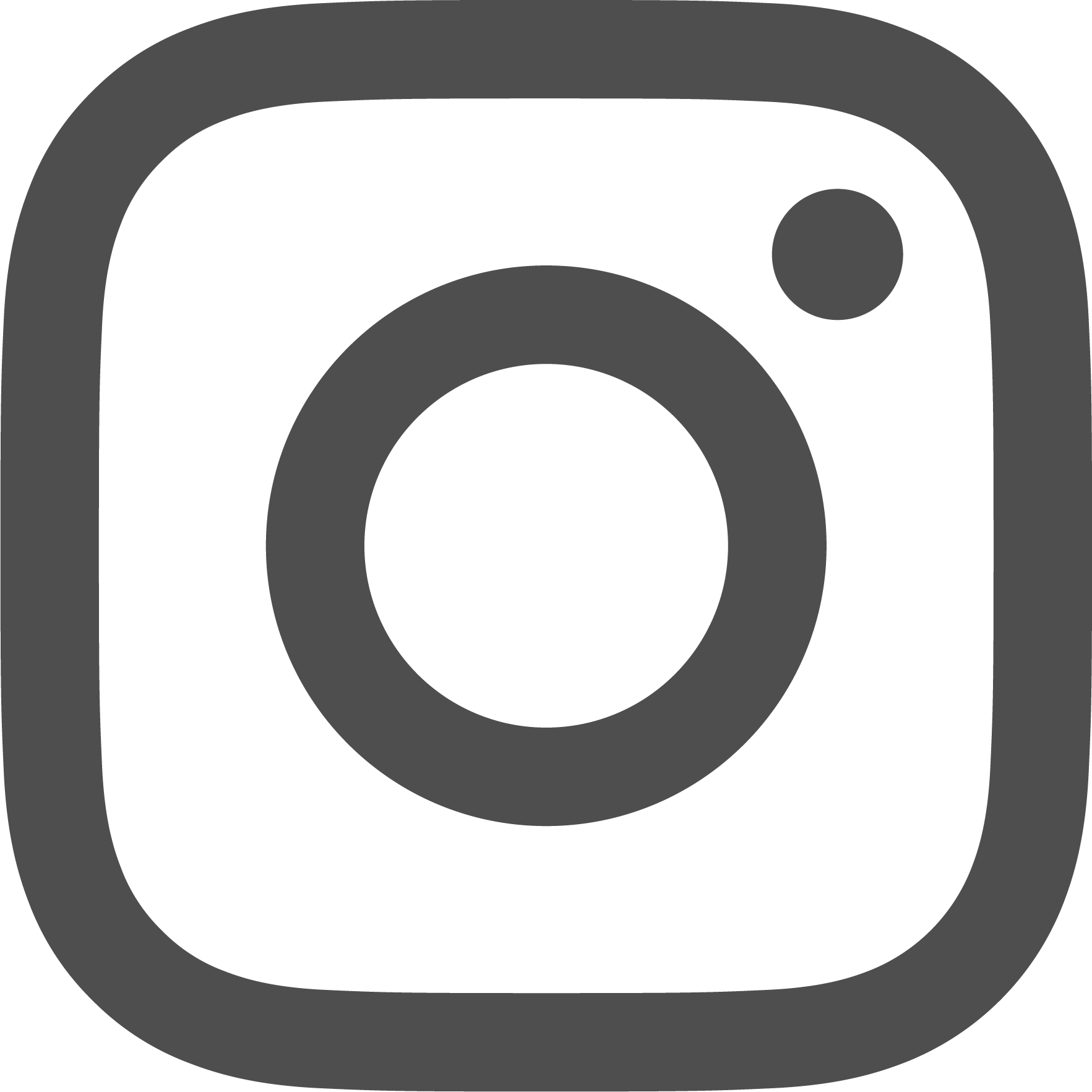O artigo data de 2002, mas sua (re) leitura foi recomendada pela Carta Maior em edição de julho deste ano. De autoria do cientista político José Luís Fiori, o texto “A geopolítica do sistema imperial” traça um panorama do capitalismo desde a formação dos estados nacionais ao moderno sistema econômico e político mundial. A introdução ao artigo ganhou assinatura de Saul Leblon, sob o título “A engrenagem que mastiga governos e nações”, em que ressalta a relevância do artigo no atual contexto brasileiro que reflete a crise do governo de Dilma Rousseff.
O texto “A geopolítica do sistema imperial”, do cientista político José Luís Fiori, foi publicado no site da Carta Maior e cedido ao Observatório das Metrópoles para ampliar o debate sobre a análise geopolítica internacional.
Fiori é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e autor do livro “O Poder Global” (Editora Boitempo). Ele pesquisa e ensina há mais de 20 anos no campo das Relações Internacionais, e em particular, na área de Economia Política Internacional, com ênfase no estudo das relações entre a geopolítica e a economia política do “sistema inter-estatal capitalista”.
Até 2008, publicou 9 livros e organizou 5 coletâneas. Ganhou o Prêmio Jabuti de Economia, Administração, Negócios e Direito, na Bienal do Livro de São Paulo, em 1998, com o livro “Poder e Dinheiro. Uma economia Política da Globalização”, organizado com a professora M.C.Tavares; e recebeu Menção Honrosa, na Bienal do Livro de 2002, com o livro “Polarização Mundial e Crescimento”, organizado com o professor C. Medeiros. Desde 1990, publicou cerca de 230 artigos em jornais como Valor Econômico, Correio Braziliense, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, Jornal do Comercio, e em revistas como Carta Capital, Exame, Praga, Margem Esquerda, Carta Maior, SinPermisso e La Onda.