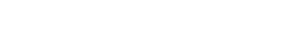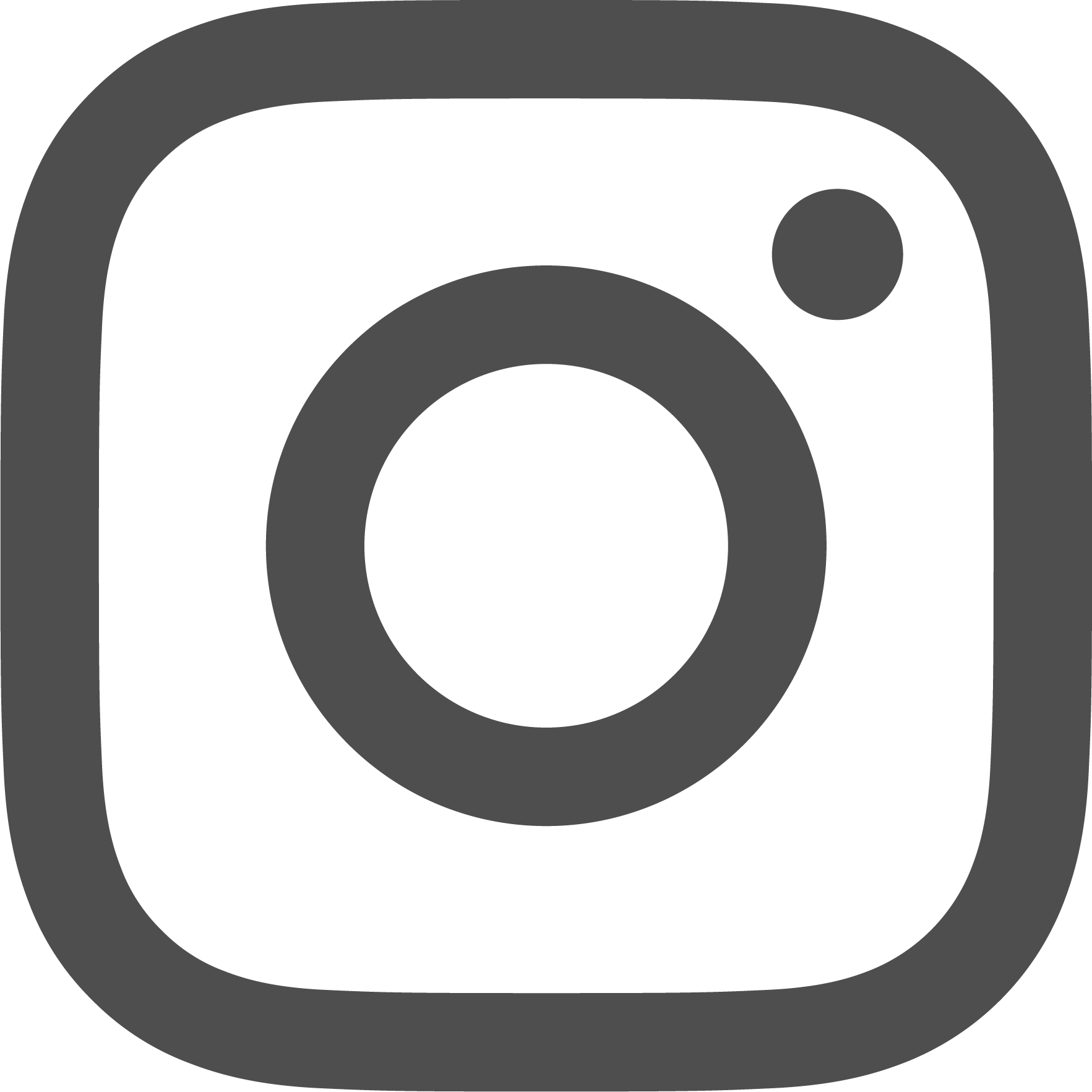Em artigo para o site Outras Palavras, o pesquisador Tales Fontana Siqueira Cunha fala sobre o incêndio da estátua do bandeirante Borba Gato e a prisão do fundador do coletivo “Entregadores Antifascistas”, Paulo Roberto da Silva Lima, o “Galo”, apontado pela polícia de São Paulo como um dos responsáveis pelo ato.
No texto, o autor apresenta alguns argumentos recorrentes na discussão, que questionam se o incêndio seria uma forma legítima de protesto ou apenas uma forma autoritária de apagar a história. Tales, no entanto, afirma que a “estátua incendiada não é revisionismo, mas grito político dos vencidos contra uma cidade segregadora, que persegue dissidências, e se recusa a celebrar as memórias populares”. Para o autor, cabe questionar qual seria a política de Estado adequada para esse tipo de situação, de modo a provocar o poder público para que tome medidas mais efusivas no sentido de discutir a história e o significado do que hoje é entendido como patrimônio cultural.
Tales Fontana Siqueira Cunha é advogado, mestre e doutorando em Arquitetura e Urbanismo pela FAU-USP. Pesquisador do Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos da FAU-USP e colaborador da Rede BrCidades.

Reprodução: Outras Palavras
“É assim, pois, que se cria uma única história: mostre um povo como uma coisa, como somente uma coisa, repetidamente, e será o que eles se tornarão. É impossível falar sobre uma única história sem falar sobre poder […] Poder é a habilidade de não só contar a história de uma outra pessoa, mas de fazer a história definitiva daquela pessoa”.
Chimamanda Ngozi Adichie
No último dia 24, as redes sociais de parte dos paulistanos se viram às voltas com a pergunta a seguinte pergunta após viralizar na internet imagens da estátua do bandeirante Borba Gato, localizada na Avenida Santo Amaro, ardendo em chamas: monumentos em chamas iluminam ou apagam a nossa memória? Ao seu lado, foi erguida uma faixa onde se lia: “Revolução periférica – a favela vai descer e não vai ser carnaval”. No mesmo dia, estavam agendadas manifestações em todo o país “em defesa da vida” e contra o presidente Jair Bolsonaro. Seria o incêndio uma forma legítima de protesto ou uma forma autoritária de apagamento da história? Qual o limite para esse tipo de intervenção?
Um primeiro aspecto que se deve levar em conta nessa discussão consiste na diferença entre o que é política de Estado e o que é revolta da população contra esse mesmo Estado. Sem dúvida, queimar estátuas enquanto política de Estado é uma prática autoritária que remonta a regimes totalitários. Por outro lado, como parte de uma revolta contra poderes instituídos, é uma prática política que pode tanto remontar a experiências de dominação e apagamento violento da história – caso da destruição em 1996 do monumento de Oscar Niemeyer em homenagem às vítimas do massacre de Eldorado dos Carajás em Marabá, no Pará, a mando de latifundiários locais – como também a experiências comumente referidas enquanto libertadoras e democráticas, caso da Independência Norte-americana. Na ocasião, colonos derrubaram e queimaram inúmeros símbolos associados à Grã-Bretanha e seu detestado rei, inclusive estátuas. Portanto, trata-se de um recurso passível de ser mobilizado por campos distintos do espectro político, como passeatas e comícios, com a diferença de confrontarem explicitamente a ordem legal.
Parte das objeções levantadas, mesmo por pessoas simpáticas à luta antirracista, foi no sentido da indagação: “se for para ser assim, teríamos que incendiar milhares de monumentos. É isso mesmo que queremos?”. Perguntas como essa fariam sentido se endereçadas a políticas de Estado: elas se pautam por métricas e critérios objetivos, permitindo que coerência e transparência sejam cobradas. Por outro lado, os protestos não respondem a essa lógica. Vale dizer: o grupo de revoltosos não tem a autoridade para retirar a estátua, que continua hoje onde sempre esteve. A intervenção, mais do que tudo, teve um caráter imagético.
Outra diferença entre protestos e políticas de Estados refere-se à profundidade dos estudos prévios necessários. Aprofundar-se na biografia de Borba Gato e identificar como e em que intensidade esteve vinculado ao massacre de povos indígenas é algo relevante para políticas de memória. Em uma situação de protesto, a simples existência do vínculo pode ser suficiente. No caso da Independência norte-americana, a biografia dos homenageados, se virtuosa, não redimiu suas estátuas e nem a coroa britânica. Do mesmo modo, no momento em que o monumento foi incendiado, as eventuais benfeitorias de Borba Gato para sua comunidade em Santo Amaro falaram menos do que o movimento histórico ao qual terminou associado e que lhe rendeu lugar cativo no panteão da historiografia paulista. O que os protestos procuram é comunicar uma insatisfação a partir dos meios disponíveis. Vale lembrar que, dentro de uma democracia, esses meios podem sempre ser questionados, mas, em um regime de austeridade fiscal permanente, cruzar os braços alegando ser “contra destruir” porque se é “a favor de construir novos” pode ser bastante cômodo.
Portanto, cabe perguntar: qual seria uma política de Estado adequada para esse tipo de situação? Em São Paulo, é possível enumerar algumas iniciativas, como o Projeto de Lei (PL 404) apresentado em 2020 pela vereadora Érica Malunguinho (PSOL), visando a transferência para museus estaduais de monumentos que prestem homenagens a escravocratas ou eventos ligados a práticas escravistas. Outro exemplo é a aprovação, em 2013, da previsão legal da possibilidade de alteração dos nomes de logradouros públicos quando se tratar de denominação referente a autoridades que tenham cometido crime de lesa-humanidade ou graves violações de direitos humanos. Porém, no caso do PL 404, o projeto não vingou, tendo o Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico) aprovado uma moção contrária. No segundo caso, resistências têm dificultado sua implementação. Um bom exemplo é a renomeação do elevado Costa e Silva, o “Minhocão”, para elevado João Goulart, proposta pelo vereador Eliseu Gabriel (PSB), em 2014, que levou 2 anos para ser aprovada.
Na contramão das boas práticas anteriormente mencionadas, a construção de monumentos e a nomeação de logradouros públicos como homenagem a personagens como os bandeirantes, somadas à elaboração de uma historiografia laudatória que reserva aos bandeirantes o papel de heróis e “pais fundadores” de São Paulo, torna-os parte integrante de nosso cotidiano, além de incentivar o desenvolvimento de afetos positivos por parte da população a esse tipo de personagem da nossa história, mesmo naqueles que descendem das vítimas dos movimentos históricos protagonizados pelos homenageados.
A própria construção de estátuas faz parte da articulação de um discurso sobre essas figuras. O monumento em homenagem a Borba Gato foi inaugurado em 1963, mais de dois séculos após a sua morte. Em contrapartida, outras dimensões de nossa cultura são relegadas ao apagamento histórico. Não por acaso, os frequentes incêndios criminosos em terreiros de umbanda e candomblé são menos noticiados e objeto de pouca indignação, se comparados ao incêndio da estátua do bandeirante. Assim, pode-se dizer que as respostas que o Estado brasileiro entrega como políticas públicas são insuficientes. Caberia a ele fazer um trabalho qualificado em termos de reconhecimento de memória, verdade, justiça, educação e reparação, porém, sua omissão acaba bloqueando um debate mais aprofundado a respeito de nossa história e de seus homenageados. Menos do que se dirigir a um passado, tentando “passar a borracha” nele, os protestos como os que vimos se dirigem a um presente que evita lidar com traumas, permitindo que eles se reproduzam reiteradamente.
Para além disso, monumentos não são intocáveis. Em seu projeto “Memória da Amnésia”, a artista plástica e professora da FAU-USP Giselle Beiguelman traçou o itinerário “nômade” de dez monumentos paulistanos que hoje, junto a inúmeros outros, encontram-se abandonados em depósitos municipais. Ao longo de um século, as estátuas ocuparam diferentes localidades da cidade, sendo realocadas por motivos diversos que vão desde requalificações urbanas até desavenças ideológicas com novos governos.
A principal forma de dilapidação do patrimônio cultural brasileiro é o abandono. Um exemplo disso é o Museu Nacional, no Rio de Janeiro: a antiga residência oficial do Imperador pegou fogo em 2018 devido à má qualidade de suas instalações elétricas, perdendo 85% de seu acervo histórico e científico construído ao longo de dois séculos. O museu, que deveria receber um repasse anual de 550 mil reais, vinha tendo seus recursos contingenciados desde 2014. No ano do incêndio, havia recebido apenas 33 mil reais. Assim, para além de ideias novas, é preciso que exista destinação de recursos.
Confira o artigo completo, CLIQUE AQUI.