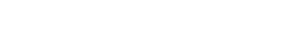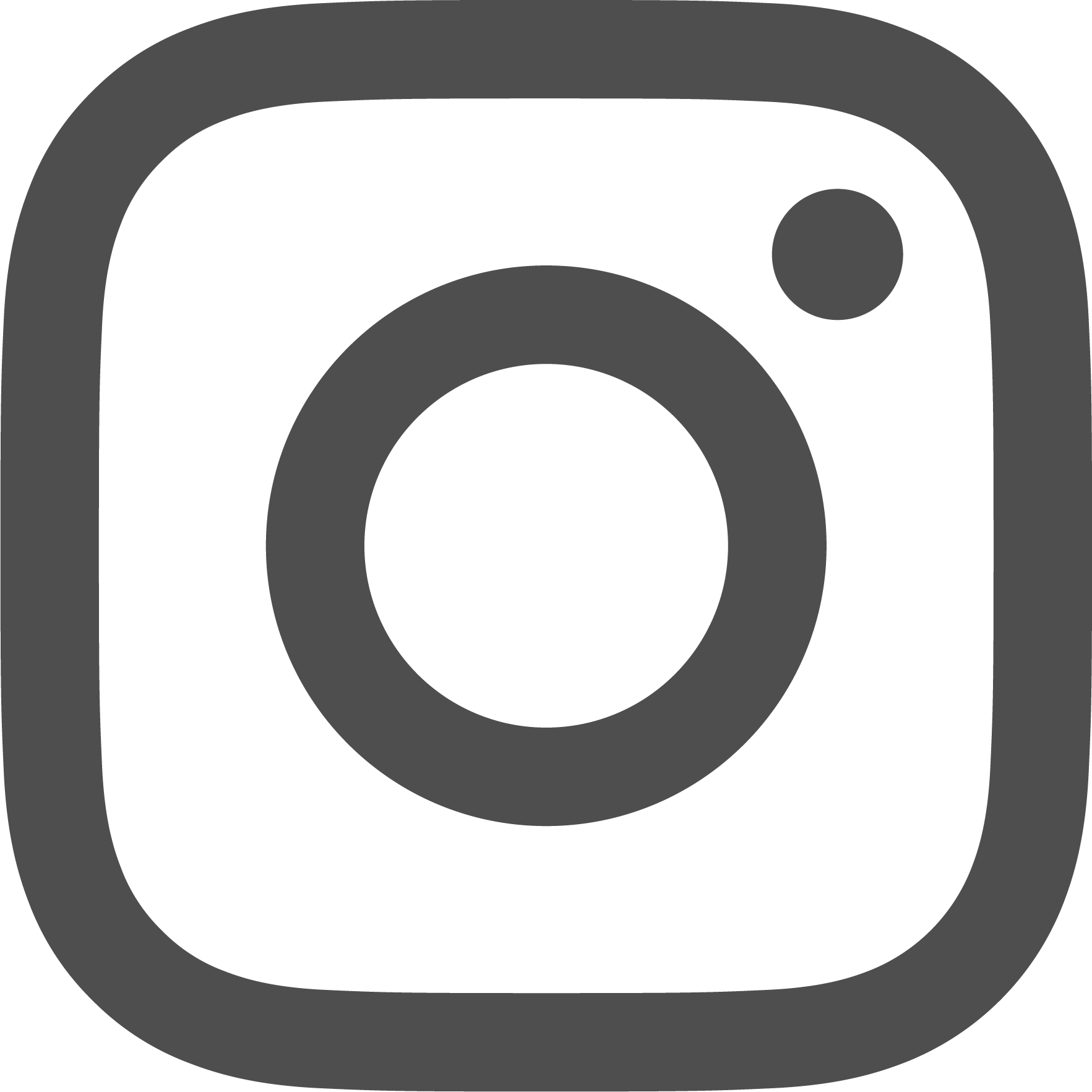O pesquisador do Núcleo Rio de Janeiro do Observatório das Metrópoles, Adauto Cardoso, coordenador do GT Habitação e Cidade, concedeu entrevista sobre o desastre urbano-ambiental em decorrência das fortes chuvas que assolaram, na última semana, o município de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.
O pesquisador do Núcleo Rio de Janeiro do Observatório das Metrópoles, Adauto Cardoso, coordenador do GT Habitação e Cidade, concedeu entrevista sobre o desastre urbano-ambiental em decorrência das fortes chuvas que assolaram, na última semana, o município de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.
Cardoso falou sobre os desafios das políticas urbana e habitacional, a forma como se estruturaram as áreas urbanas ao longo das décadas recentes, a gestão urbana e o padrão de “governo das emergências”, o déficit habitacional que afeta famílias com renda de até 1,8 mil reais e como preparar as cidades diante das mudanças climáticas. Segundo o pesquisador, as pessoas precisam ter voz e hegemonia no processo de reconstrução das cidades. “Senão, de novo, vão construir áreas seguras para as elites e vamos continuar a ter catástrofes humanitárias como essa que aconteceu em Petrópolis”, pontuou. Confira a entrevista:
A adoção de políticas habitacionais efetivas poderia ter evitado a tragédia humana em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro? Qual a sua avaliação sobre os entraves e desafios das políticas urbana e habitacional no contexto fluminense?
Com relação à adoção de políticas habitacionais efetivas, sem dúvida, é necessário que se articulem com políticas urbanas e de controle e mitigação de risco. E, ainda, com políticas fundiárias. A questão é complexa porque envolve a identificação de áreas com condições ambientais adequadas à ocupação urbana, liberação dessas áreas para ocupação por população de baixa renda, porque normalmente essas áreas são cobiçadas pelo mercado imobiliário, ou seja, são áreas ocupadas por população de maior renda. É preciso preparar essas áreas com investimentos em infraestrutura, em mobilidade urbana, para que possam estar conectadas com as áreas mais centrais e com equipamentos, como escolas, postos de saúde, enfim, que permitam atender a essas populações.
Acho que não podemos cair no erro do Minha Casa, Minha Vida, e fazer de novo um programa onde quem vai definir isso – quais são os locais onde vai ficar a população de baixa renda e de que forma vão ser construídos os conjuntos habitacionais –, não podemos deixar isso na mão da iniciativa privada. Isso tem que ser feito a partir de um planejamento público e com participação popular. E com algumas áreas, obviamente, tem que haver realocação, nas áreas de risco alto essa população tem que ser realocada para áreas com conjuntos habitacionais que sejam adequados. Não adianta jogar essa população em um lugar qualquer, onde ela perca seus vínculos com a cidade, com a geração de renda e a sociabilidade. Portanto, isso tudo tem que ser planejado e, se não for feito com planejamento público, se for deixado ao sabor do mercado, essa população não vai ficar nesses lugares. Essa história já aconteceu na época do BNH (Banco Nacional da Habitação), quando a população foi removida das favelas para as periferias e acabou voltando para as favelas, e no próprio Minha Casa, Minha Vida tivemos relatos dessas situações: pessoas que deixam o imóvel, deixam seu apartamento, às vezes alugam no mercado informal, vendem também no mercado informal e voltam para áreas onde estejam mais próximas das suas áreas de trabalho. Porque não temos um esquema de mobilidade urbana que permita que essas pessoas acessem as áreas da cidade onde elas trabalham, em tempo e condições adequadas. Então, o problema é complexo, envolve política habitacional, sim, mas envolve uma política habitacional articulada com a questão urbana, ambiental e com uma política voltada para a redução e mitigação do risco em grande escala e com recurso. Não é construir “meia dúzia” de unidades agora que vai resolver esse problema para atender quem está desabrigado e colocar as pessoas de qualquer jeito e em qualquer lugar.
Temos a história do evento de 11 anos atrás que até hoje tem gente que está no aluguel social e não se construíram soluções adequadas para essas pessoas. É um legado que só se acumula com o tempo e que tem que ser enfrentado de outra forma. Não é que não se saiba o que fazer tecnicamente, a gente sabe o que precisa ser feito, mas a questão é ter uma decisão política e alocar recursos efetivos para produzir soluções adequadas. E isso tem que ser articulado com políticas que evitem também a ocupação de novas áreas onde esse risco vai se repetir. Então, não adianta, essas áreas que são desocupadas e as áreas que ainda não foram ocupadas e que são áreas de risco, têm que ser preservadas de uma forma mais efetiva. O poder público tem que atuar nesse sentido, de evitar ocupação, ao mesmo tempo em que oferece alternativas habitacionais para a população de baixa renda, para que ela não precise subir o morro e ficar morando nessas condições a ponto de acontecer o que está acontecendo. É preciso lembrar que viver em situação de aluguel, de precariedade habitacional, de não ter acesso ao mercado de trabalho, também é risco social e econômico. O risco não é só ambiental. Essas pessoas, às vezes, escolhem morar em áreas de risco ambiental porque a outra opção seria não ter como sobreviver, como comprar comida para os seus filhos. E esse é um risco cotidiano, do dia a dia, não é o risco de uma chuva possível no futuro que, em princípio, poderia não acontecer e acaba acontecendo. Mas, para essa população, se não houver uma alternativa razoável, viável, o jeito é continuar procurando aquilo que resolve o seu problema cotidiano, porque não adianta ela evitar o risco de uma chuva que pode acontecer daqui a dez anos, se ela não conseguir sobreviver nesse tempo, se ela não conseguir alimentar a sua família. Isso é importante, a localização e as condições da moradia são fundamentais para a reprodução social e econômica das famílias. Portanto, isso também tem que ser considerado quando se pensa na questão do risco.
A extensão do desastre em Petrópolis, em termos de população atingida e de prejuízos materiais, pode ser considerada resultado da forma como se estruturaram as áreas urbanas ao longo das décadas recentes?
Sim e não. Por um lado, sem dúvida, Petrópolis, assim como o desastre ocorrido 11 anos atrás que atingiu toda a Região Serrana, é uma cidade que não estava preparada, se sabia onde estavam os problemas, as áreas de risco, as situações de vulnerabilidade social e ambiental e não houve prepara para enfrentar uma nova ocorrência de chuvas pesadas. Tem a ver, sim, com o resultado da forma como essa cidade vem crescendo ao longo do tempo e, particularmente, nos anos mais recentes. Por outro lado, é inegável que a gente está enfrentando problemas climáticos muito mais graves e sérios, e ocorrências de chuvas com muito mais intensidade do que se tinha no passado, fruto do processo de emergências climáticas e da mudança do clima no mundo. A quantidade de chuvas que caiu, segundo os especialistas em hidrologia, não tinha nenhum parâmetro de referência em relação ao histórico de chuvas nessa região.
De qualquer maneira, temos que pensar essa situação agora, refletindo que, primeiro: chuvas como essa vão voltar a ocorrer em um intervalo de tempo muito mais curto do que acontecia antes. Temos dois tipos de problemas, lidar com o legado de inoperância, de falta de planejamento e falta de políticas públicas para lidar com esse problema no contexto específico de áreas de grande vulnerabilidade socioambiental e, por outro lado, temos que lidar com isso frente a uma situação que só vai se agravar daqui para frente. Realmente, é um desafio muito grande para ser enfrentado e que se não for olhado de frente e priorizado na agenda pública, se não for construído um consenso sociopolítico em relação à necessidade de enfrentar esses problemas, esses desastres vão voltar a acontecer em dimensões semelhantes a essa ou, eventualmente, até maiores.
O planejamento, a regulação e a rotina das ações públicas estão sendo substituídos por um padrão de operações por exceção, com órgãos públicos fragilizados tentando responder casualmente aos efeitos sobre a população de uma cidade em situação de indefesa permanente. Na sua opinião, estamos diante dos resultados de uma catastrófica gestão urbana, baseada num padrão de “governo das emergências”?
Isso é uma questão importante, porque dentre as várias ações que são tomadas quando se tem o mapeamento e a identificação das áreas de risco, como aconteceu no caso de Petrópolis, e como acontece no caso do Rio de Janeiro, uma das medidas que normalmente são adotadas e seguidas pelos governos municipais é a de instalar um sistema de alarmes para poder avisar as pessoas da possibilidade da ocorrência de chuvas pesadas. Esse é o típico modelo de gestão de emergência. Isso tem um sentido, é importante, só que isso não pode ser tratado como “bom, você avisou, então tudo bem, está resolvido”. Se a orientação é “procure um lugar seguro”, onde está esse lugar? Como as pessoas vão sair das suas casas que, em princípio, é o local mais seguro que elas conhecem? Onde elas podem se abrigar? Uma política desse tipo, de gestão de emergência, para ser efetiva, teria que ter abrigos ou pontos de acolhimento dessa população distribuídos pela cidade para que, quando isso ocorresse, as pessoas tivessem para onde ir. E não apenas isso, teria que ter uma atuação, principalmente da área do Serviço Social, junto com a Defesa Civil, no sentido de identificar em cada área de moradia popular sujeita ao risco, as lideranças locais com capacidade de mobilização, que saibam quem são as pessoas e que as mobilize para sair dali e efetivamente se dirigir para áreas onde possam estar seguras. Isso seria uma política de gestão de emergência planejada e adequada.
Da mesma forma, a possibilidade de investir em processos técnicos que permitissem prever com uma antecedência maior os efeitos possíveis e a intensidade dos eventos certamente seria, também, muito importante. Isso, considerando que existe uma gestão da emergência que é necessária, mas a gestão do risco não pode ser só a gestão da emergência e, na verdade, foi isso que aconteceu. Quer dizer, o que foi feito de planejamento? As informações que temos é que havia um plano de 2017 de identificação das áreas de risco, segundo o arquiteto Kelson Senra, que foi secretário de habitação em Petrópolis, onde foram identificadas mais de cinco mil áreas com um conjunto enorme de ações a serem efetivadas. Foi feito um plano a partir da situação existente que não considerava a possibilidade de eventos tão dramáticos assim, mas, de todo modo, nada foi feito. Há um problema mais fundo, pois existem áreas que implicam na necessidade de desocupação e reflorestamento para que fosse possível estabilizar o solo naquela região.
O arquiteto Manoel Ribeiro se manifestou nas redes sociais e falou de uma forma bastante interessante da situação específica da cidade de Petrópolis, onde as suas condições naturais são vales, encostas com alta declividade e um tipo de solo de transição, porque há rochas em deterioração, e que é muito vulnerável para esse tipo de ocorrência de deslizamento de encostas. E ainda têm as águas todas indo para determinado tipo de vertentes e se direcionando ao sistema hidrológico que faz o escoamento dessas águas. O projeto de ocupação de Petrópolis do século XIX foi muito bem construído exatamente pensando em como canalizar essas águas e como adotar uma ocupação do solo onde o tipo de ocupação não fosse um obstáculo à drenagem. Semelhante aos projetos do engenheiro sanitarista Saturnino de Brito para a cidade de Santos (SP), onde o projeto urbanístico foi pensado a partir das soluções de drenagem urbana. Petrópolis tinha esse modelo, mas a ocupação que vai se seguindo o desrespeita e vai começando a criar barreiras ao fluxo das águas, ocupando encostas que teriam mais fragilidade para esse tipo de ocorrência de deslizamento, não só a população de baixa renda, mas de alta e média renda também.
Portanto, um modelo de urbanismo mais adaptado à natureza foi abandonado também por falta de planejamento, por conta de um planejamento que muitas vezes ignorou a questão ambiental. Lembramos que só a partir da década de 1970 essa questão ambiental voltou a ser incorporada no planejamento das cidades de uma forma mais efetiva, porém a legislação urbanística toda é muito influenciada pelos grandes interesses locais. E aí, realmente, essa ideia de conter a ocupação em determinadas áreas, direcionar a ocupação para setores onde a vulnerabilidade seja menor, tudo isso foi deixado em segundo plano e a cidade cresceu dessa forma, completamente inadequada para responder a esses problemas.
É grave o déficit habitacional que afeta famílias com renda de até 1,8 mil reais e a situação ficou ainda mais preocupante com a pandemia. No período recente, também tivemos a extinção do Programa Minha Casa, Minha Vida, que trazia a promessa de um grande programa de reforma do habitat urbano brasileiro, além do desmonte da política de promoção do direito à cidade e da reforma urbana. Como seria possível reverter esse quadro?
O Brasil não tem um histórico de uma política habitacional permanente – mesmo que mude e se adapte ao longo do tempo –, o que temos na verdade são ciclos. Tivemos o ciclo dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), da Fundação da Casa Popular, entre os anos 30 e 60, depois se teve o ciclo do Banco Nacional da Habitação (BNH). Após a extinção do BNH, em 1986, houve um ciclo em que não havia políticas e cada cidade precisou fazer por conta própria para tentar resolver o problema, e esse período da década de 1980 a 1990 foi de grande crescimento da informalidade urbana, da expansão das favelas e loteamentos precários, e finalmente tivemos o Minha Casa, Minha Vida, que tem grandes virtudes, porque foi uma política que conseguiu atender à população de baixa renda, inclusive, atendendo com 90% de subsídios às famílias de renda até três salários mínimos, e realmente proporcionou o acesso à moradia e à propriedade privada para uma faixa importante da população. É um programa que teve esse mérito, pois foi o primeiro programa onde efetivamente se teve subsídios para conseguir que essas famílias tivessem acesso, mas com um problema que resultou num certo legado complicado desses conjuntos, porque foram conjuntos produzidos sob a hegemonia da iniciativa privada. Nesse sentido, todos os critérios de implantação, de definição de projetos e de localização foram feitos a partir de uma expectativa de aumento do lucro da empresa e não em função do que seriam as necessidades habitacionais reais das pessoas. Isso resultou em conjuntos muito distantes das áreas centrais, com dificuldade de mobilidade para acessar áreas de emprego e renda, que acabaram ficando muito isolados, e ainda com soluções em condomínios que estão gerando problemas de manutenção.
Hoje, temos um legado no município do Rio de Janeiro e na Região Metropolitana, do Minha Casa, Minha Vida, de conjuntos que estão precarizados e com dificuldades de inserção urbana, um contexto de entorno bastante problemático. Então, a necessidade de uma política habitacional é evidente. O que a gente precisa é de uma política que seja permanente e com recursos permanentes, onde o poder público tenha prioridade, mas, também, tenha um processo de participação popular efetivo, de gestão democrática da política. Não adianta ter um grande programa que terá um impacto eleitoral e político e, em seguida, ele acaba, como acabaram há pouco com o Minha Casa, Minha Vida. É preciso ter uma agenda permanente com subsídio permanente. Não pode estar ao sabor das flutuações econômicas, é necessário ter fontes de recursos que permitam acesso permanente ao subsídio para as famílias de baixa renda, através de programas que não sejam só baseados na transferência da propriedade.
Existem possibilidades de programas de locação social que funcionam muito bem, há o exemplo europeu, que é importante, mesmo os programas de auxílio aluguel, não o que temos no Brasil, mas um programa de aluguel social consistente e permanente como se tem nos Estados Unidos, pode ser muito mais interessante e flexível, ao mesmo tempo que se tenha incentivos à construção habitacional. Muitos incentivos podem ser feitos incorporando a renúncia fiscal como um subsídio, e não com o subsídio direto, de recursos imediatos gerados no tesouro. São soluções que podem ser pensadas. Mas é fundamental, agora que estamos em ano eleitoral, pensar em uma nova política habitacional, onde também as soluções não sejam só construções de conjuntos pelas empresas, mas que se retomem outras alternativas, como a autoconstrução assistida, construção por mutirão, por autogestão. Têm várias experiências bem-sucedidas de construção por autogestão, então, há soluções e alternativas, mas que precisam ser pensadas dentro de um grande plano que seja possível reverter o quadro do déficit habitacional e com prioridades bem definidas.
Realocar famílias em áreas de risco tem que ser uma prioridade, mas que seja tratada de uma forma técnica e politicamente consistente e não usar a área de risco como uma forma de legitimar remoção de população que está incomodando o setor imobiliário. O discurso da área de risco é muito mal utilizado no debate político e foi utilizado no Rio de Janeiro pelo prefeito Eduardo Paes em gestões anteriores para viabilizar a remoção de população. O programa Minha Casa, Minha Vida, no Rio de Janeiro, foi utilizado para reassentar a população removida por conta das obras para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas, então, não era a população em déficit habitacional ou em área de risco. É importante pensar uma política habitacional, sim, é fundamental que tenha subsídio para atender a população de baixíssima renda, mas não com a hegemonia do setor privado, das construtoras, como foi o Minha Casa, Minha Vida.
A associação entre um padrão de urbanização não organizado e eventos climáticos extremos tem gerado a expansão de riscos ambientais, atingindo populações e espaços cada vez maiores. Como preparar as cidades diante das mudanças climáticas para evitar a repetição dessas tragédias?
Diria que temos dois grandes desafios, quando pensamos no contexto atual e no futuro. É necessário preparar as cidades para os eventos climáticos extremos e para as epidemias e pandemias. São dois elementos que têm que entrar no planejamento. Uma das coisas é rever o legado do passado e olhar para o futuro. O legado do passado tem a ver com os déficits acumulados, seja habitacional ou de áreas com infraestrutura precária, de moradia em área de risco, tudo isso é legado. Porém tem o déficit do pensamento da capacidade de planejamento, porque ainda está muito balizado por critérios e indicadores ultrapassados. É claro que se esse planejamento mesmo com os padrões inadequados tivesse sido efetivado, a situação não seria tão grave hoje. Mas frente à gravidade dessa situação, é preciso repensar o planejamento. Temos vários desafios.
Com relação aos eventos climáticos, há o desafio de integração dentro do campo do urbanismo e do desenho urbano, com o campo da engenharia e da medicina social. São questões absolutamente fundamentais para repensar as cidades. A própria engenharia precisa ser repensada. Os engenheiros que trabalham nesse setor de hidrologia têm sempre uma grande tendência a concentrar sua visão da intervenção baseada em grandes obras estruturais. Canalizar rios e córregos, realizar grandes barragens, fazer piscinões, em muitas situações isso é inevitável, mas, em outras, seria muito mais interessante adotar alternativas mais naturais, onde se preserva a forma como os cursos d’água já naturalmente se dão e que preserva as áreas de margens para eventuais cheias, como a natureza normalmente funciona. Existe todo um pensamento no campo da engenharia hidrológica que vai nessa direção, mas isso ainda não é hegemônico e, particularmente, no Brasil, os engenheiros ainda são formados numa mentalidade muito antiga. Rever isso é fundamental. Articular uma política de uso e ocupação do solo que normalmente é feita pelos arquitetos e com uma determinada visão, até de preservação, sim, mas sem esse viés da questão hidrológica e da preservação das encostas, é preciso articular mais esses pensamentos.
O planejamento quando surge no final do século XIX tinha uma visão muito mais interdisciplinar do que acabou se tornando. Principalmente, no Brasil, acabou se tornando uma especialidade dentro do campo da arquitetura que passou a ser o campo da arquitetura e urbanismo. Então, o planejamento mais interdisciplinar, que integre a geografia, a geologia, a engenharia de vários níveis, hidrologia e contenção de encostas, as áreas sociais, a sociologia, economia, tudo isso é fundamental. Por isso, a importância de repensar o planejamento para repensar as cidades e construir outros modelos para o urbano. Não só a questão do que ocorreu em Petrópolis, de deslizamento de áreas de grandes massas de terra e encostas, mas também teremos o problema da elevação do nível do mar.
Há um trabalho de um doutor formado pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia (Coppe/UFRJ), chamado Paulo Carneiro, que desenvolveu a sua tese sobre as enchentes na Baixada Fluminense. Ele realizou uma simulação do que aconteceria na Baixada com as enchentes recorrentes, pois, embora não tenha encostas, existem enormes áreas que ficam completamente alagadas. Segundo o trabalho, a situação vai piorar, porque o nível do mar irá subir e os rios desaguam na Baía de Guanabara em cotas muito baixas, com baixa declividade, então vai encher muito mais do que enche hoje. São tragédias anunciadas. De fato, existe avanço técnico no campo da engenharia e da arquitetura e urbanismo, mas o planejamento como ferramenta efetiva de intervenção para além das universidades e da pesquisa, ainda não avançou no sentido de incorporar essas dimensões. Se olhar a Secretaria de Urbanismo do município do Rio de Janeiro, há profissionais experientes e que conhecem a cidade, mas que estão dentro de uma bolha na forma de pensar a intervenção da cidade, o zoneamento urbano, a ocupação do solo. É preciso romper essas bolhas e criar ações mais intersetoriais e interdisciplinares.
Eu diria que o ideal seria que cada município tivesse uma força-tarefa local, com apoio técnico das universidades para repensar a cidade e olhar principalmente para esses pontos críticos. É similar aos impactos das epidemias nas áreas de favelas, que é muito maior porque as possibilidades de construir isolamento social são mais difíceis, o saneamento é mais escasso, o acesso ao sistema de saúde é mais complexo, a mobilidade dentro de favelas em áreas de encostas é muito mais dificultada. Tem uma série de restrições e elementos para pensar os projetos de urbanização de favelas. Após a pandemia, pensar nesses projetos considerando uma forma coerente, consistente, técnica e negociada politicamente com a população. É necessário olhar para a questão da prevenção do risco e pensar a cidade como um todo. Tem que se pensar em áreas de ocupação que possam ser interconectadas com os centros urbanos e de geração de emprego e renda, de sociabilidade, mas que essa situação do risco não se coloque de forma tão grave quanto se coloca em algumas áreas. A engenharia sabe identificar as áreas de alto risco, que podem ter mitigação por obras estruturais e as áreas que precisam de intervenções mais pontuais e mais tranquilas.
Então, é possível, sim, temos técnicas para isso, mas as cidades, historicamente, estão ao sabor dos interesses da elite e do capital imobiliário. É isso que governa as cidades. Enquanto não se construir um amplo consenso social, com hegemonia das forças populares, no sentido de rever esse processo, porque quem paga a conta no final, quem morre na enxurrada, na grande maioria, são as pessoas de baixa renda, negras, pessoas que têm os maiores níveis de carência e de vulnerabilidade social. O percentual de população de média e alta renda atingido tende a ser muito menor do que a população de renda mais baixa. As pessoas precisam ter voz e hegemonia nesse processo de reconstrução das cidades, senão, de novo vamos ser capturados pelas elites. Vão construir áreas seguras para as elites, e vamos continuar a ter catástrofes humanitárias como a que ocorreu em Petrópolis.