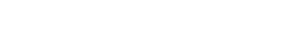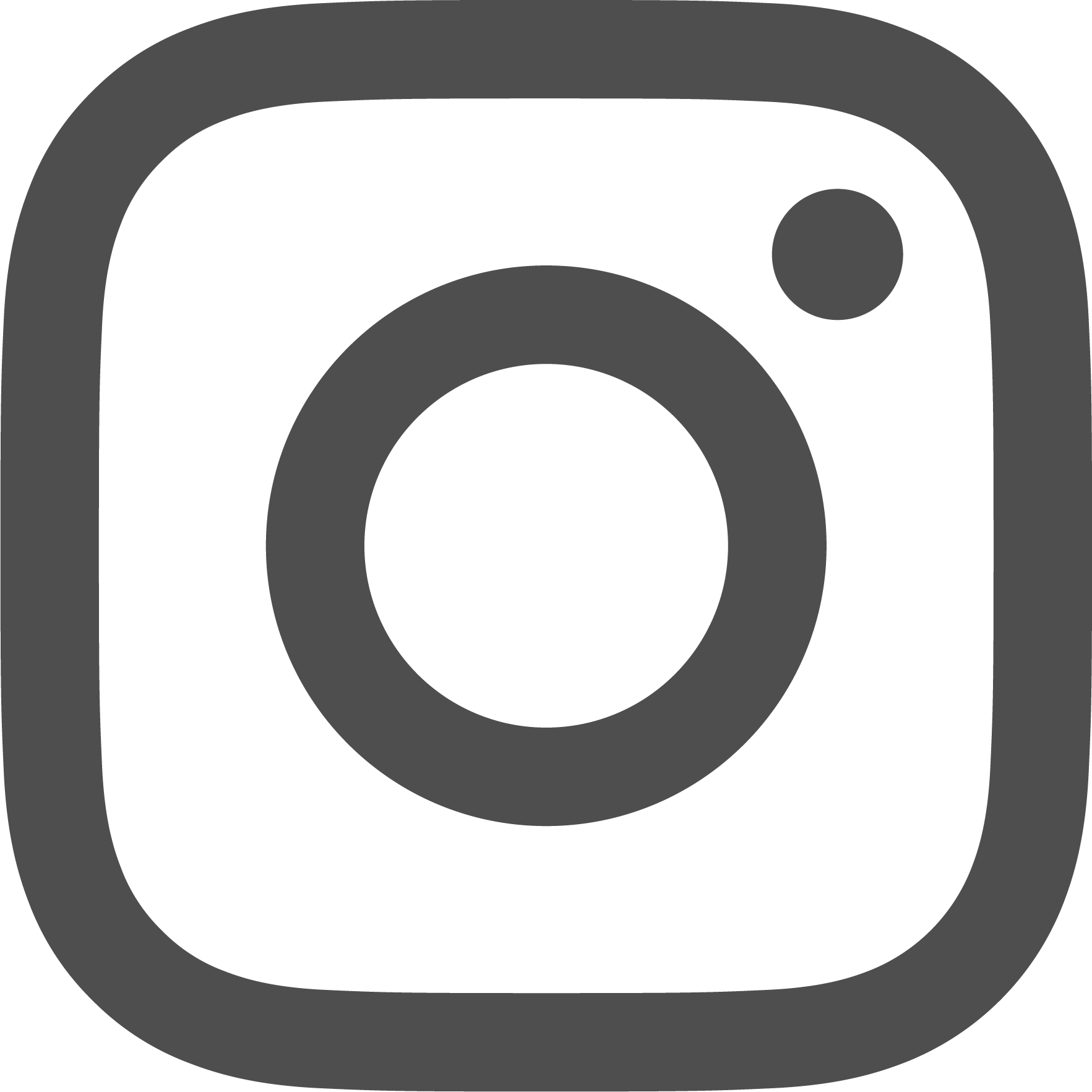De que forma se desenvolveu o planejamento urbano no Brasil? E como a tradição brasileira amadureceu para pensar políticas para os grandes territórios urbanos? Em depoimento para o boletim Observatório das Metrópoles, o urbanista e arquiteto Jorge Wilheim fala sobre a sua trajetória profissional, que se confunde com os últimos 50 anos do desenvolvimento urbano do país. Durante o governo paulista de Antônio Fleury Filho (1991-1994), Wilheim coordenou a elaboração do segundo Plano Metropolitano de São Paulo, projeto pioneiro que pensava a problemática metropolitana dentro dos marcos de um mundo globalizado.
O percurso de Jorge Wilheim começou em 1954, quando realiza o projeto urbanístico de Angélica (MS), seguidos dos planos diretores de Curitiba, Joinville, Campinas, São José dos Campos, Natal, Goiânia, Fortaleza, Osasco e várias outras cidades. Foi consultor, na década de 60, do primeiro Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado (PMDI) para São Paulo. E, na década de 90, assume o cargo de secretário-geral adjunto da Conferência Mundial Habitat 2 (ONU), realizada em 1996, em Istambul, Turquia. De volta ao Brasil, retoma projetos de planos diretores para cidades como Campos do Jordão e São Paulo (2000). Nesse período, publica o livro “Tênue Esperança no Vasto Caos: Questões do Proto-Renascimento do Século XXI”, em que procura sistematizar sua experiência no campo do urbanismo.
Leia o depoimento completo de Jorge Wilheim a seguir.
Lidando com metrópoles
Um depoimento de Jorge Wilheim
Nesta curiosa profissão de arquiteto em que lidamos com uma matéria imponderável, o futuro, e com carências e demandas do presente, defrontei-me, desde quando saí da faculdade (1952), com a questão urbana. E a duras penas aprendi que em planejamento há três tarefas em que devemos nos desincumbir: prever, propor e prover. Frequentemente há planos em que esta trinca não se completa: após longo diagnóstico há timidez em propor mudanças; ou, quando estas existem, deixa-se de expor quais as provisões a tomar. Também aprendi a suportar a frustração quando planos são ignorados, abandonados ou profundamente alterados… Nestes casos, contudo, algo sempre sobra, em uma espécie de memória profissional ou política, reaparecendo após longo intervalo as concepções e as propostas elaboradas há décadas (geralmente ignorando sua anterior autoria).
Em urbanismo, aprendi minha primeira lição quando (1954) parado no meio de uma mata virgem me perguntava qual o significado e concepção de uma cidade nova a ser ali criada, para dar suporte à vida e à economia de uma futura e gradual transformação agrícola. Perguntava-me, aflito, o que esta tarefa tinha em comum com o urbanismo de Le Corbusier, cidades-jardim, burgos europeus, FL Wright que haviam me formado? Foi então o livro de um geógrafo francês que viera estudar realidades do oeste paulista (“Pioneiros e cultivadores do Estado de São Paulo”, de Pierre Monbeig) que me alertou para a importância da vida urbana em franjas pioneiras, defrontando e desbravando a mata. Assim projetei Angélica (MS), com profundo respeito pelos futuros habitantes; dois anos depois participei do Concurso para o Plano Piloto de Brasília, com uma concepção politicamente equivocada, pois imaginara sua construção lenta, gradual, por fases. Ainda entendia pouco de como funciona o mundo, necessariamente político.
A realidade urbana de um país de dimensões continentais e que não conheceu vida de aldeia, nem a de burgos medievais, obrigou-me a inovar concepções e métodos de trabalho e, por exemplo, a relacionar fortemente habitação e transporte como padrão de crescimento, quando da elaboração do Plano de Curitiba (1964). E, após décadas de êxitos em licitações para elaboração de planos diretores (Joinville, Campinas, São José dos Campos, Natal, Goiânia, Fortaleza, Osasco, Guarulhos e outros) nova alteração metodológica surge quando abordo as questões da vida urbana da metrópole de São Paulo: entre outras inovações, elaboram-se a aplicação do solo criado, o deslocamento do potencial construtivo, o abandono do zoneamento restritivo, as operações urbanas, os dois coeficientes de aproveitamento – básico e máximo -, a outorga onerosa, as normas para negociações entre vizinhos, as formas de representação popular, a flexibilidade no uso do planejamento.
Nesta trajetória profissional era inevitável, ante a urbanização do mundo, com o crescimento de metrópoles na segunda metade do século XX, e com o surgimento de vastas regiões urbanizadas, que me visse arrastado a encarar essas novas realidades urbanas, atraindo-me à participação em associações do tipo “Megacities” (criada por Janice Perlman), debates internacionais sobre “um outro desenvolvimento”, metropolização e, no caso paulista, de participar de suas sucessivas fases de abordagem.

Jorge Wilheim
Em São Paulo iniciaram-se estudos sobre sua região metropolitana na década de 60, quando o GEGRAN- Grupo de estudos da Grande São Paulo foi constituído no seio do governo do Estado. Participei das reuniões de constituição, assim como havia colaborado, no âmbito do município, com a criação da COGEP – Coordenação de Planejamento que viria a se transformar em Secretaria Municipal. Com a participação de diversas empresas consultoras e com a autorização da Emenda Constitucional de 1969 de se criarem regiões metropolitanas, elaborou-se o primeiro PMDI – Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado e recordo-me ter sido o analista contratado para a região oeste da região. Seu título revelava uma preocupação que já tínhamos na época: a de integrar as diversas ações públicas, diminuindo a sua autarquização; e de afastar a ideia de plano urbanístico de “desenho”, assim como de distinguir desenvolvimento de crescimento, a fim de integrar aspectos econômicos com os sociais e os ambientais.
Os governos autoritários militares utilizavam e até incentivaram o planejamento, pois se tratava de matéria curricular da formação dos militares; tinham de planejamento uma visão ao mesmo tempo de “colocar coisa em seu lugar” e de estratégia objetivando resultados. Gerados pelo golpe militar, esses governos ilegítimos acabaram apegados ao objetivo do poder e o planejamento permaneceu estéril.
Em 1975, Paulo Egydio Martins assume o governo do estado, sob o manto protetor do novo presidente, Ernesto Geisel, o qual pretendia realizar uma “abertura lenta e gradual” do regime, escanteando a ala torturadora e de direita comandada pelo Ministro Frota que, a seu ver, punha em risco a unidade do Exército.
Nesta fase política de abertura, eu fora contratado por uma entidade de bancos, a pedido de Paulo Egydio, para, com uma equipe, estudar quais eram os problemas emergentes do Estado. Adotei uma orientação pragmática: os problemas que emergiam eram pontas de iceberg; haveria que agrupá-las para em seguida investigar a que massa pertenciam, pois frequentemente as pontas resultavam do mesmo corpo. Ao final deveríamos examinar quais icebergs eram suscetíveis a uma ação do governo do Estado, com o fim deles serem “liquefeitos”. O trabalho final tomou o formato de uma estratégia de governo, uma matriz de ações que envolviam todos os setores de governo, concentrados por vezes em ações comuns. Este “road map” que permaneceu afixado durante toda a minha gestão de secretário de Economia e Planejamento na sala que ocupei no Palácio dos Bandeirantes, fora antes apresentado aos políticos e colaboradores (diversos dos quais éramos discreta porém claramente em oposição aos governos militares, vendo em Geisel um início possível de re-democratização).
Enquanto lidava com os Problemas Emergentes, Paulo Egydio convidou Roberto Cerqueira César (ex-sócio de Rino Levi em cujo escritório aprendi a ser arquiteto) a propor algo para a região metropolitana, convidando-o em seguida a assumir a nova Secretaria dos Negócios Metropolitanos. Assim criaram-se, em 1975, o sistema de planejamento (SPAM) e os órgãos de governança da Grande São Paulo: a Secretaria, o CODEGRAN – Conselho Executivo, o CONSULTI, conselho consultivo formado pelos prefeitos da região, o FUMEFI, fundo de financiamento de obras metropolitanas; e a EMPLASA, empresa de planejamento. Neste período (1975-79) procedeu-se ao primeiro levantamento e mapeamento da região, elaborou-se o primeiro Plano Metropolitano, e a Emplasa, sob a direção de Eurico Azevedo, teve a sua mais brilhante e produtiva fase.
Mas a Paulo Egydio seguiu-se Paulo Maluf. E em lugar de um governante de ideias modernas e generosas, o pragmatismo oportunista assumiu todos os espaços, os Conselhos de Desenvolvimento que criara em todo o Estado, foram desmanchados, a Secretaria de Planejamento que elaborara Planos de Desenvolvimento de cada região do Estado retrocedeu para cuidar apenas do orçamento, e a Emplasa foi relegada à ociosidade. O retrocesso do planejamento não era, no entanto, apenas gerado pelas características daquele governador; o mundo político, em sua maioria, era refratário ao planejamento, a fim de que ninguém roubasse de cada deputado (ou cada vereador) a primazia, a exclusividade de obter benefícios para as localidades que haviam gerado seus votos. É inegável que a representação popular implica nesse tipo de ação política; porém seria de se esperar que o representante também alçasse sua vista para o interesse público, o desenvolvimento regional e nacional, a justiça social etc.
Durante décadas, destruído o sistema metropolitano, a Emplasa sobreviveu, porém a duras penas; em duas ocasiões estava em reuniões (no Governo Montoro e no governo Quércia) em que surgiu a proposta de fechar a Emplasa e aproveitar sua estrutura legal para criar alguma outra empresa estatal. Em ambas vezes tive a sorte de estar presente e de convencer os participantes a preservá-la, pois ela mantinha todo o conhecimento integrado sobre o desenvolvimento da metrópole.
Em 199, após ter sido Secretário Estadual do Meio Ambiente, assumi a presidência da Emplasa e dediquei-me a elaborar o segundo Plano Metropolitano de São Paulo, destinado a orientar o desenvolvimento metropolitano de 1994 a 2010. Sua publicação foi distribuída na ocasião e certamente deve estar nas prateleiras da empresa. O Plano apresentava algumas novidades: além da atualização de dados e mapas para 1993: a problemática metropolitana era colocada dentro de marcos de um mundo globalizado, em uma era de transição e rupturas, com transformações rápidas e mudanças nas polaridades mundiais e nacionais, com novos riscos e oportunidades.
Esta inserção de São Paulo em um mundo globalizado e as carências e possibilidades que esta percepção oferecia, eram descritos através de dois cenários: o conservador e o inovador. E, para implementar a proposta deste último cenário, o Plano terminava descrevendo diretrizes e ações que cobriam aspectos físicos, sociais, econômicos e institucionais. Infelizmente, para a frustração minha e de toda a equipe técnica que se dedicara com entusiasmo à nova percepção de riscos e oportunidades, o Plano foi arquivado sem que o Governador Fleury demonstrasse qualquer interesse em implementá-lo.
Pessoalmente, esta frustração foi apenas um motivo a mais para aceitar em 1994 o convite da ONU para assumir o cargo de Secretário Geral Adjunto da conferência Habitat-2, tendo por tema o futuro das cidades, e que a Assembleia Geral decidira realizar em Istambul em 1996. E lá fui morar em Nairobi, Quênia, onde estão sediados os órgãos da ONU dedicados ao ambiente e ao habitat humano, com a tarefa básica de elaborar o projeto da Conferência e de articular globalmente sua realização.
A experiência da montagem desta conferência mundial está descrita em meu livro “O caminho de Istambul” de 1998 (e o seu apêndice “Nosso fecundo fim de mundo” aponta já para a crise que estouraria em 2008). Minha tarefa principal foi a de projetar a Conferência, dando-lhe conteúdo e abrindo perspectivas, evitando, enfim, que ela se limitasse a discursos e boas intenções. Trabalhei dois meses na montagem de um amplo quadro que permaneceria afixado em minha sala até o fim, começando pelo fim, isto é, pelas resoluções e produtos que buscaríamos aprovar na Conferência. Eles eram (e o foram!): (a) a montagem de um Catálogo de Boas Experiências Urbanas; (b) a montagem de um Observatório Urbano Mundial; (c) a elevação de status, perante a ONU, das autoridades locais (prefeitos, em nosso caso); (d) a re-estruturação do órgão que cuidava das aglomerações urbanas e que todos chamavam pelo apelido de Habitat.
Convém lembrar que um Catálogo de Boas Experiências já existira em São Paulo, implantado pelo CEPAM (Fundação Faria Lima) e partira de uma experiência do senegalês Bougnicourt, trazida-me por Ignacy Sachs. Já havíamos tentado montar um Observatório durante as reuniões da “Megacities”, mormente na reunião de Jacarta, com a participação de Manoel Castells. Os prefeitos hoje constituem um setor específico na ONU, deixando de serem classificados com integrantes da sociedade civil, ao nível das ONGs. Finalmente: após a Conferência, em documento intitulado “And now what ?” propus – em vão – de transformar o Centro Habitat em um Programa (elevação de status; isto se realizou) e reformá-lo como um “feixe de redes” dedicado à informação, pesquisa aplicada, e atendimentos técnicos tópicos, produzindo subsídios para os órgãos executivos da ONU. Esta transformação ainda não ocorreu. É preciso muita vontade política para mudar sistemas de poder.
Para chegar à aprovação desses produtos, construí um arcabouço de conferência montado sobre grande número de redes, motivando o óbvio interesse que existe na questão do futuro das cidades, muito além da mera representação formal dos embaixadores que conduzem as políticas da ONU. Conseguimos assim levar para Istambul cerca de 20.000 pessoas, realizando, na semana anterior à inauguração da Conferência, sub-conferências de autoridades locais, de mulheres, de jovens, de empresas do terceiro setor, do mundo acadêmico específico, de fundações. Todas acabaram levando seus programas e seus compromissos para um Segundo Comitê da Conferência, artifício que propusera para que estes “elementos externos à diplomacia da ONU” se encontrassem formalmente com os embaixadores. Outras novidades nesta conferência foram: a proximidade, temida pelos diplomatas, entre o local oficial e o das reuniões e mostras das ONGs; e a realização paralela de 10 “Diálogos sobre o futuro urbano” que atraíram público considerável. O prefeito recém eleito de Istambul com quem dialogava era Recep Erdogan, atual primeiro ministro turco.
Este ano o Governador Alkmin, (embora com atraso dos 16 anos em que o Estado é governado pelo mesmo partido) fez o óbvio: recriou o sistema metropolitano, com os elementos de governança de 1975, os quais, aliás, jamais haviam sido revogados. Depois de 17 anos da elaboração do Plano Metropolitano de 94, o planejamento metropolitano poderá, com estrutura formal, abordar os mencionados riscos e as oportunidades com que se defronta a metrópole. Neste período de relativa inação local, mas com a criação do Estatuto da Cidade e do Ministério das Cidades, o contexto mudou, tornou-se mais complexo, e a fila (de problemas) andou.
A região metropolitana de São Paulo não pode resumir-se a seus 39 municípios, pois de fato ela se transformou em uma Região Urbanizada que integra as RM de Campinas, da Baixada Santista e as regiões de Sorocaba e de São José dos Campos! Este conceito que tenho repetido em artigos, livros e debates, já está sendo admitido. Apesar do lapso entre a postulação de 1994 e a implementação a partir de 2011, sou otimista e espero que o planejamento venha agora a ter mais espaço vital, resultado da força dos fatos. Tinha razão Bertold Brecht: “As coisas não continuarão a ser o que são, precisamente por serem o que são”.
Outubro 2011
Última modificação em 19-10-2011